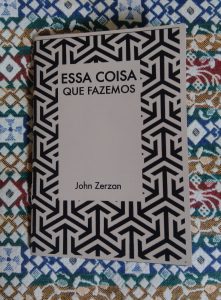
Este ensaio foi escrito por John Zerzan e se encontra no livro Correndo no Vazio: A patologia da civilização (Running on Emptiness: The Pathology of Civilization, 2002). Foi traduzido por Roberto Seimetz. Neste ensaio, Zerzan aprofunda seu questionamento à reificação ou objetificação como raiz da alienação civilizada.
Do Latim ‘re’, ou coisa, a reificação é essencialmente uma coisificação. Theodor Adorno, entre outros, afirmou que a sociedade e a consciência tornaram-se quase completamente reificadas. Através desse processo, as práticas e as relações humanas passam a ser vistas como objetos exteriores. Aquilo que é vivo acaba por ser tratado como uma coisa ou abstração não-viva, e essa reviravolta nos acontecimentos é vivenciada como algo natural, normal, inconteste.
Em Tristes Tropiques (Tristes Trópicos), Claude Lévi-Strauss nos oferece uma imagem desse processo de reificação, em termos da atrofia da civilização europeia: “(…) tal como um animal envelhecido, cujo couro cada vez mais espesso formou uma crosta imperecível em torno de seu corpo que, ao não mais permitir que a pele respire, está acelerando o processo de envelhecimento”[1]. A perda de sentido, de imediação e de vitalidade espiritual na civilização ocidental é um tema central nas obras de Max Weber, e também está ligada à reificação da vida moderna. Que esse fracasso da vida e do encantamento parece ser, de alguma forma, inevitável e imutável, em grande medida apenas dado como certo, é um fato tão importante quanto sua consequência reificada, e é inseparável dela.
Como chegamos ao ponto em que as atividades e as conexões humanas tornaram-se separadas de seus sujeitos e adquiriram uma “vida” própria coisificada? E considerando-se o evidente declínio da crença nas instituições e nas categorias de nossa sociedade, o que mantém as “coisas” unidas na sociedade coisificada?
Termos como reificação e alienação, em um mundo cada vez mais constituído das formas mais graves de alheamento, não são mais encontrados na literatura que supostamente lida com esse mundo. Aqueles que alegam não ter ideologia são muitas vezes os mais confinados e definidos pela ideologia dominante que eles não são capazes de perceber, e é possível que o mais alto grau de alienação seja atingido onde ela não mais adentra a consciência.
Reificação tornou-se um termo de uso corrente, tal como definido pelo marxista Georg Lukács: a saber, uma forma de alienação que surge a partir do fetichismo da mercadoria das relações de mercado modernas. As condições sociais e a situação do indivíduo tornaram-se misteriosas e impenetráveis como função daquilo a que agora normalmente nos referimos como sendo o capitalismo de consumo. A força reificadora do estágio do capital que se iniciou no século XX nos esmaga e nos cega.
Penso, contudo, que pode ser útil redefinir a reificação de modo a se estabelecer um significado e uma dinâmica muito mais profundos. Aquilo que é pura e diretamente humano está de fato sendo esvaziado, assim como a própria natureza tem sido subjugada como um objeto. No gélido universo das mercadorias, o domínio das coisas sobre a vida é óbvio, e essa frieza que Adorno identificou como o princípio básico da subjetividade burguesa está se intensificando.
Mas se a reificação é o mecanismo central através do qual a forma da mercadoria permeia a totalidade da cultura, ela também é muito mais do que isso. Kant conhecia o termo, e foi Hegel, pouco depois, quem fez amplo uso dele (bem como do termo objetificação, seu equivalente aproximado). Ele descobriu uma radical ausência de ser no âmago do sujeito; e é aqui que poderemos investigar frutiferamente.
O mundo apresenta-se a nós – e nós o re-presentamos. Qual é a necessidade de fazermos isso? Sabemos o que os símbolos realmente simbolizam? Seria a verdade aquilo que precisa ser possuído, e não aquilo que é representado? Os signos são basicamente sinais, isto é, são correlativos; mas os símbolos são substitutivos.
Tal como Husserl coloca, “O símbolo existe efetivamente no momento em que ele introduziu algo além da própria vida (…)”[2]. É possível que a reificação seja um corolário ou um subproduto inevitável da simbolização mesma.
Para se dizer o mínimo, parece haver fundamentos reificados em todas as redes de dominação. Os calendários e os relógios formalizam o tempo e, ademais, o reificam, o que, provavelmente, foi a primeira de todas as reificações. A estrutura social dividida é um mundo reificado em grande parte porque ela é uma estrutura simbólica de funções e de imagens, e não de pessoas. O poder se cristaliza sob a forma de redes de dominação e de hierarquia à medida que a reificação entra em cena logo no início. No atual mundo producionista, a extrema divisão do trabalho realiza o seu sentido original. Tornados cada vez mais passivos e insignificantes, reificamo-nos sem cessar. Nosso empobrecimento crescente beira a condição em que somos meras coisas.
A reificação permeia a cultura pós-moderna, na qual apenas as aparências mudam e parecem estar vivas. O caráter nefasto de nossa pós-modernidade pode ser considerado como o destino da história da filosofia, e como o destino de bem mais do que tão-somente a filosofia. A história enquanto história começa como perda de integridade, como imersão em uma trajetória exterior que faz o eu em pedaços. A negação da escolha humana e do agir efetivo é tão antiga quanto a divisão do trabalho; apenas seu desenvolvimento drástico ou sua plena realização são novos.
Há cerca de 250 anos, o romântico alemão Novalis lamentava que “perdeu-se o sentido da vida”[3]. O questionamento generalizado do sentido da vida somente começou por volta desse período, exatamente na mesma época em que o industrialismo fazia as suas primeiras incursões[4]. Desse momento em diante, a erosão do sentido foi rapidamente acelerada, o que nos lembra que a função substitutiva da simbolização é também protética. A substituição daquilo que é vivo pelo que é artificial, tal como a tecnologia, implica uma coisificação. A reificação sempre é, ao menos em parte, um imperativo tecnológico.
A tecnologia é “a habilidade de ordenar o mundo de tal forma que não precisemos vivenciá-lo”[5]. Espera-se que neguemos aquilo que é vivo e natural dentro de nós, a fim de que aquiesçamos na dominação da natureza não-humana. A tecnologia tornou-se, inequivocamente, o grande veículo da reificação. Sem nos esquecermos que ela encarna e está incorporada em um âmbito global do capital que se expande cada vez mais, a reificação nos subordina a nossas próprias criações objetificadas. (“As coisas assumiram as rédeas e comandam a humanidade.”, observou Emerson na metade do século XIX.) Essa reviravolta nos acontecimentos nem mesmo é algo recente; em vez disso, ela reflete o código fundamental da cultura, ab origino (desde a origem). A separação em relação à natureza e sua pacificação e manipulação subsequentes fazem com que nos perguntemos: o indivíduo está desaparecendo? Foi a própria cultura que colocou esse processo em movimento? Como chegamos ao ponto em que uma formulação tão reificada como “as crianças são nosso recurso mais precioso” não parece repugnante aos olhos de todos?
Somos prisioneiros de tantas coisas que são não apenas funcionais, enquanto matéria-prima para o funcionamento de outras coisas manipuláveis, mas que também são sempre artificiais. Somos exilados em relação ao que é imediato, em uma paisagem desvanecida e arrasada onde o pensamento luta para desaprender seu condicionamento alienado. Merleau-Ponty falhou em sua busca, mas ao menos tentou chegar a uma ontologia primordial da visão, anterior à ruptura entre sujeito e objeto. É a divisão do trabalho e as formas conceituais de pensamento resultantes que permanecem inquestionadas, impedindo a descoberta da reificação e do pensamento reificado.
Em última instância, é nosso modo de conhecer em sua totalidade que tem sido deformado e reduzido dessa maneira, e que precisa ser compreendido enquanto tal. A “inteligência” é agora uma exterioridade a ser mensurada, equiparada a proficiência em manipular símbolos. A filosofia tornou-se a racionalização altamente elaborada das reificações. E, de um modo ainda mais geral, o próprio ser é constituído enquanto experiência e representação, enquanto sujeito e objeto. Esses desdobramentos devem ser criticados o mais fundamentalmente possível.
O elemento ativo e vivo na cognição precisa ser desvelado sob as reificações que o mascaram. A cognição, a despeito da ortodoxia contemporânea, não é uma série de cômputos. O filósofo Ryle intuiu que uma forma de conhecimento que não dependa da representação simbólica deve ser a forma básica de conhecimento[6]. Nossas noções da realidade são os produtos de um sistema de símbolos artificialmente construído, cujos componentes, com o passar do tempo, se cristalizaram sob a forma de reificações ou objetificações, à medida que a divisão do trabalho se consolidou como dominação da natureza e domesticação do indivíduo.
As formas de pensamento capazes de produzir cultura e civilização são não-sensíveis e geram distanciamento. Elas abstraem-se do sujeito e tornam-se um objeto independente. É um fato revelador que as sensações sejam muito mais resistentes à reificação do que as imagens mentais. O discurso platônico é um grande exemplo de uma forma de pensamento que avança à custa dos sentidos, em sua ruptura radical entre percepções e ideias. Adorno chama a atenção para uma alternativa mais benéfica com sua observação de que nos escritos de Walter Benjamin “o pensamento tem um contato próximo com o objeto, como se através do tato, do olfato e do paladar ele quisesse transformar-se”[7]. E Le Roy provavelmente chega muito perto do cerne da questão quando diz: “nos resignamos ao conceito unicamente por falta de percepção”[8]. Historicamente determinada no mais profundo dos sentidos, a característica de reificação do pensamento é mais uma das quedas em relação ao “estado de graça” cognitivo.
Husserl e outros compreenderam a representação simbólica como destinada originalmente a ser apenas um complemento temporário à expressão autêntica. A reificação entra em cena, de certa forma, de um modo paralelo, à medida que a representação passa do status de um substantivo utilizado para fins específicos ao status de um objeto. Se essas teses descritivas são adequadas ou não, parece ao menos evidente que há um hiato inelutável entre a abstração do conceito e a riqueza da teia dos fenômenos. Pertinente aqui é a conclusão de Heidegger de que o pensamento autêntico é “não conceitual”, uma espécie de “escuta reverencial”[9].
Sempre da maior relevância é a violência que nosso ethos (modo de ser) tecnológico obsessivamente invasivo perpetra contra a experiência vivida. Gilbert Germain compreendeu como esse ethos promove, à força, um “esquecimento da conexão entre o pensamento reflexivo e a experiência perceptiva direta do mundo, do qual esse pensamento surge e ao qual ele deveria retornar”[10]. Engels notou de passagem que “a razão humana desenvolveu-se de acordo com a transformação da natureza pelo humano”[11], o que é uma maneira eufemística de referir-se à íntima conexão entre a razão objetificadora e instrumentalizadora e a reificação progressiva.
Em todo caso, o pensamento típico da civilização tem se esforçado por reduzir a abundância que ainda persiste em nos cercar. A cultura é uma tela através da qual nossas percepções, nossas ideias e nossos sentimentos são filtrados e domesticados. De acordo com Jean-Luc Nancy, a principal coisa que o pensamento representativo representa é sua própria limitação[12]. Heidegger e Wittgenstein, possivelmente os pensadores mais originais do século XX, acabaram rejeitando a filosofia nesses termos.
O mundo-da-vida reificado exclui progressivamente aquilo que o questiona. A literatura a respeito da sociedade levanta cada vez menos questões básicas acerca da sociedade, e o sofrimento do indivíduo agora raramente é relacionado até mesmo a esta sociedade incontestada. A desolação emocional é vista quase totalmente como uma questão de anomalias cerebrais ou químicas “naturais” que ocorrem espontaneamente, nada tendo a ver com o contexto destrutivo que o indivíduo é, em geral, levado a suportar cegamente sob o efeito de drogas.
Em um nível mais abstrato, a reificação pode ser neutralizada ao se equipará-la à objetificação, que é definida de um modo que a coloca além de qualquer questionamento. A objetificação, nesse sentido, é tomada na acepção de uma consciência da existência de sujeitos e objetos, bem como do duplo caráter do eu enquanto sujeito e enquanto objeto. Hegel, nessa mesma veia, referiu-se à objetificação como a essência mesma do sujeito, sem a qual não é possível que haja desenvolvimento. Adorno considerava que certa dose de reificação seria um elemento indispensável no processo necessário de objetificação humana. À medida que se tornou mais pessimista em relação à realização de uma sociedade desreificada, ele passou a utilizar os termos reificação e objetificação como sinônimos[13], consumando um abandono desmoralizado do projeto de questionar totalmente ambos os conceitos.
Penso que possa ser elucidativo reconhecer os dois termos como sinônimos, não para acabar aceitando a ambos, mas para considerar a ideia de se investigar a alienação em sua forma mais básica. Toda objetificação requer uma alienação do sujeito em relação ao objeto, o que seria fundamental, ao que parece, para se atingir o objetivo de reconciliá-los. Como foi que chegamos a este presente horrendo, que pode ser definido como uma condição em que o sujeito reificado e o objeto reificado implicam-se mutuamente? Como é que, tal como William Desmond coloca, “a intimidade do ser é dissolvida na antítese moderna entre sujeito e objeto”?[14]
Tal como o mundo é moldado através da objetificação, assim também o é o sujeito: o mundo como um campo de objetos passíveis de manipulação. A objetificação manifesta-se na condição de base para a dominação da natureza enquanto outro exterior e alheio. Ainda mais revelador é o uso que Marx e Lukács fazem do termo como o meio natural através do qual os humanos dominam o mundo.
A mudança de foco dos objetos para a objetificação, da realidade para as construções de realidade, é também uma mudança com vistas à dominação e à mistificação. A objetificação é o momento decisivo para a cultura, na medida em que torna a domesticação possível. Ela atinge seu pleno potencial com o estabelecimento da divisão do trabalho; o próprio princípio de troca desenvolve-se como objetificação. Analogamente, nenhuma das instituições da sociedade dividida consegue ser poderosa ou determinante sem um elemento reificado.
O filósofo Croce considerava pura retórica falar de um belo rio ou de uma bela flor; para ele, a natureza era estúpida em comparação com a arte. Essa elevação do cultural somente é possível por meio da objetificação. Em contrapartida, as obras de Kafka retratam as consequências da lógica cultural objetificadora, com sua descrição impressionante de uma paisagem reificada que esmaga o sujeito.
A representação e a produção são os fundamentos da reificação, que consolida e expande o império das primeiras. A tendência da reificação que, em última instância, leva ao distanciamento e à domesticação, impõe a separação crescente entre os sujeitos reduzidos e enrijecidos e um âmbito de experiência igualmente objetificado. Tal como diz a máxima situacionista, hoje o olho vê apenas as coisas e seus preços. A gênese dessa perspectiva é muitíssimo mais antiga do que a formulação dos situacionistas dá a entender; o projeto de desobjetificação pode fortalecer-se a partir da condição humana que existia antes do desenvolvimento da reificação. Um “futuro primitivo” torna-se urgente, no qual o domínio coisificado da civilização simbólica será substituído por um envolvimento vivo com o mundo e por uma participação fluída e íntima na natureza.
O primeiro de todos os sintomas da vida alienada é o surgimento gradual do tempo. A primeira reificação e, cada vez mais, a reificação quintessencial, o tempo é praticamente sinônimo de alienação. Somos agora governados e regulados de um modo tão generalizado por esse “isto” que, obviamente, é destituído de existência concreta, que ponderar a respeito de uma época pré-civilizada e atemporal é uma tarefa extremamente difícil.
O tempo é o sintoma de outros sintomas vindouros. A relação entre sujeito e objeto deve ter sido radicalmente diferente antes do momento em que a distância temporal começou a avançar para dentro da psique. O tempo passou a elevar-se acima de nós como uma coisa externa – um precursor do trabalho e da mercadoria, separado e dominador, tal como descrito por Marx. Essa força despresentificadora implica que a desreificação significaria um retorno ao presente eterno em que vivíamos antes de sermos sugados pela força de atração da história.
M. Cioran pergunta-se: “Como não se indignar com a absurdidade do tempo, com sua marcha em direção ao futuro e com todo o discurso sem sentido sobre evolução e progresso? Por que avançar? Por que viver no tempo?”[15]. O apelo de Walter Benjamin para que se destruísse a continuidade reificada da história estava baseado de um modo um tanto quanto análogo em seu anseio por uma plenitude ou unidade da experiência. A certa altura, o momento em si mesmo é o que de fato importaria, não dependendo de outros instantes “no tempo”.
Foi, sem dúvida, o relógio que completou essa reificação, ao dissociar o tempo dos eventos humanos e dos processos naturais. À época de seu surgimento, o tempo já era completamente exterior à vida e estava encarnado no primeiro dispositivo totalmente mecanizado. No século XV, Giovanni Tortelli escreveu que o relógio “parece estar vivo, visto que se move por conta própria”[16]. O tempo passou a ser a medida de seus conteúdos, não mais os conteúdos sendo a medida do tempo. Muitas vezes dizemos que “não temos tempo”, mas é a reificação básica, o tempo, que nos tem.
A vida fragmentada é incapaz de tornar-se a norma sem a vitória fundamental do tempo. A complexidade, a singularidade e a diversidade de todas as criaturas vivas não se deixam extraviar pelo reino padronizador do quantitativo sem essa objetificação crucial.
A questão da origem da reificação é uma questão desafiadora que raras vezes foi perscrutada com suficiente profundidade. Um erro comum consiste em confundir-se inteligência com cultura; isto é, considera-se que a ausência de cultura seja equivalente à ausência de inteligência. Essa confusão é agravada ainda mais quando a reificação é vista como inerente à natureza do funcionamento mental. A partir de Thomas Wynn[17] e de outros pesquisadores, sabemos agora que os humanos pré-históricos eram dotados de uma inteligência idêntica à nossa. Se a cultura é impossível sem a objetificação, daí não se segue que ambas sejam inevitáveis ou desejáveis.
Por mais cético que Adorno tenha sido em relação à ideia de origens, ele reconheceu que, originalmente, o comportamento humano não envolvia objetificação[18]. De modo semelhante, Husserl chegou a referir-se à unidade primordial de toda a consciência antes de sua dissociação[19].
Colocar essa condição existencial em foco provou ser algo, no mínimo, problemático. Lévi-Strauss iniciou sua atividade antropológica tendo essa busca em mente: “Eu estava à procura de uma sociedade reduzida a sua forma mais simples. A sociedade dos Nambikwara era tão verdadeiramente simples que tudo o que pude encontrar foram seres humanos”[20]. Em outras palavras, ele, de fato, ainda estava em busca da cultura simbólica, e parecia estar mal equipado para ponderar a respeito do significado de sua ausência. Herbert Marcuse pretendia que a história humana se conformasse à natureza como uma harmonia entre sujeito e objeto, mas ele sabia que “a história é a negação da natureza”[21]. A perspectiva pós-moderna celebra positivamente a presença reificadora da história e da cultura ao negar a possibilidade de que um estado pré-objetificacional tenha existido. Tendo se rendido à representação – e a todas as outras realidades estéreis básicas do passado, do presente e do futuro –, dos pós-modernistas dificilmente se poderia esperar que investiguem a gênese da reificação.
Se não a reificação original, a linguagem é a que traz consigo as consequências de maior vulto, enquanto fundamento da cultura representacional. A linguagem é a reificação da comunicação, uma mudança paradigmática que estabelece todas as outras formas de separação mental. A versão do filósofo W. V. Quine para essa mesma tese é que a reificação surge com o pronome[22].
“No princípio era a Palavra (…)”, o início de tudo isso, que está nos matando ao limitar a existência a uma imensidão de coisas. Enquanto corolário da simbolização, a reificação é uma esclerose que sufoca aquilo que é vivo, aberto e natural. O símbolo assume o lugar do ser. Se para nós é impossível coincidirmos com nosso ser, argumenta Sartre em Being and Nothingness (O Ser e o Nada), então o simbólico é a medida dessa não-coincidência. A reificação consuma esse fato, e a linguagem é sua moeda universal.
Uma mediação simbólica exaurida com cada vez menos a dizer prevalece em um mundo no qual essa mediação agora é vista como o fato central e até mesmo como o fato definidor da vida. Em uma existência sem vitalidade ou sem sentido, nada resta a não ser a linguagem. A relação da linguagem com a realidade dominou a filosofia do século XX. Wittgenstein, por exemplo, estava convencido de que a fundamentação da linguagem e do sentido linguístico constitui a base mesma da filosofia.
Essa “virada linguística” parece ser ainda mais profunda se considerarmos todo o caráter de categorização próprio à linguagem, o que inclui seu impacto original como um distanciamento radical. A linguagem é um elemento fundamental em nossa obrigação de objetificarmo-nos, em um contexto social que, cada vez mais, nos é alheio. Assim, é absurdo Heidegger declarar que a verdade a respeito da linguagem é que ela recusa-se a ser objetificada. O ato reificacional da linguagem empobrece a existência ao criar um universo de sentido suficiente em si mesmo. O “suficiente em si mesmo” supremo é o conceito de “Deus”, e sua descrição última é, de modo revelador, “Eu Sou o que Sou.” (Êxodo 3:14). Claramente, passamos a considerar a natureza separada e fechada em si mesma da objetificação como a qualidade mais elevada, em vez de a considerarmos como a degradação daquilo que é “meramente” contingente, relacional, conectado.
Já há algum tempo, se tem reconhecido que o pensamento não depende da linguagem e que a linguagem limita as possibilidades do pensamento[23]. Gottlob Frege perguntou-se se pensar de uma forma não-reificada é possível, e como seria possível explicar de que maneira o pensamento pode, em absoluto, ser reificado. A resposta não se encontrava no campo da lógica formal, por ele escolhido.
Na verdade, a linguagem avança como uma coisa exterior ao sujeito e molda nossos processos cognitivos. A teoria psicanalítica clássica ignorava a linguagem, mas Melanie Klein discutiu a simbolização como um fator que desencadeia a angústia. Para se traduzir a intuição de Klein em termos culturais, a angústia em relação à erosão de um mundo-da-vida não-objetificado ocasiona a linguagem. Experimentamos “o impulso de lançarmo-nos contra a linguagem”[24], quando sentimos que renunciamos à nossa voz e a única coisa que nos resta é a linguagem. A magnitude dessa perda é sugerida na definição de C. S. Peirce do eu como, sobretudo, uma consistência (ausência de contradição) da simbolização; “minha linguagem”, por sua vez, “constitui a totalidade do meu eu”, concluiu ele[25]. Dado esse tipo de redução, não é difícil concordarmos com Lacan que a iniciação ao mundo simbólico gera um anelo persistente que surge do afastamento do indivíduo em relação ao mundo real. “A expressão linguística é um mero substitutivo.”, escreveu Joyce em Finnegans Wake.
A linguagem refuta todo apelo à imediação ao desrespeitar aquilo que é singular e imobilizar aquilo que está em constante movimento. Seus elementos são entidades independentes em relação à consciência que os articula, os quais, por sua vez, sobrecarregam essa consciência. De acordo com Quine, essa reificação desempenha uma função na criação de um “sistema estruturado do mundo”, ao aparar as “arestas da experiência em seu estado bruto”[26]. Quine não reconhece os aspectos limitadores desse projeto. Em sua obra final, que ficou inacabada, o fenomenólogo Merleau-Ponty começou a investigar como a linguagem reduz uma riqueza original e como ela, na verdade, vai de encontro à percepção.
A linguagem, enquanto meio separado, de fato facilita a criação de um sistema estruturado, baseado em si mesmo, capaz de lidar com as “rebarbas” anárquicas da experiência. Ela realiza isso, basicamente a serviço da divisão do trabalho, ao rejeitar o aqui e agora da experiência. “Perceber é esquecer o nome daquilo que se percebe.”, uma declaração antirreificação de Paul Valéry[27], que nos dá uma indicação de como as palavras se interpõem no caminho da apreensão direta. Os Murngin do norte da Austrália consideravam o ato de dar nomes como uma espécie de morte, como a perda de uma plenitude original[28]. Um momento crucial da reificação ocorreu quando sucumbimos aos nomes e fomos convertidos em letras. Talvez seja quando mais precisamos nos expressar, plena e completamente, que a linguagem revela mais claramente sua natureza redutora e inarticulada.
A linguagem em si mesma corrompe, tal como Rousseau afirmou em seu famoso sonho de uma comunidade que pudesse estar livre dela. O caminho para além das pretensões da reificação implica quebrar o antigo feitiço da representação.
Outro canal básico da reificação é o ritual, que originou-se como um meio de inculcar um certo tipo de ordem conceitual e social. O ritual é um esquema de ação objetificado, e envolve um comportamento simbólico que é padronizado e repetitivo. Ele é a primeira fetichização da cultura, e aponta decisivamente rumo à domesticação. Em relação a esta última, o ritual pode ser considerado como o modelo original de calculabilidade da produção. Nessa mesma linha, Georges Condominas contestou a distinção que normalmente é feita entre ritual e agricultura. Seu trabalho de campo no sudeste da Ásia levou-o a compreender o ritual como um componente integral da tecnologia da agricultura tradicional[29].
Mircea Eliade descreveu os ritos religiosos como sendo reais somente na medida em que eles imitam ou repetem simbolicamente algum tipo de evento arquetípico, e acrescentou que a participação é sentida como sendo genuína somente na medida dessa identificação; isto é, somente na medida em que a pessoa participante cessa de ser ela mesma[30]. Assim, o ato ritual repetitivo está intimamente relacionado à essência de despersonificação e desvalorização inerente à divisão do trabalho e, ao mesmo tempo, fica no limiar de uma potencial definição do processo de reificação mesmo. Abandonar-se em subordinação a um evento ou momento petrificado de um passado distante: tornar-se reificado, uma coisa que deve sua suposta autenticidade a uma reificação anterior.
A religião, tal como o resto da cultura, origina-se da falsa noção da necessidade de um combate contra as forças da natureza. Os poderes da natureza são reificados, juntamente com os poderes de seus equivalentes religiosos ou mitológicos. Do animismo ao deísmo, o divino desenvolve-se em oposição a um mundo natural retratado como cada vez mais ameaçador e caótico. J. G. Frazier compreendia os fenômenos religiosos e mágicos como “a conversão consciente daquilo que até então havia sido considerado como um ser vivo em uma substância impessoal”[31]. Deificar é reificar, e uma descoberta de novembro de 1997 do arqueólogo Juan Vadeum nos ajuda a situar o contexto de domesticação desse movimento. Em Chiapas, no México, Vadeum descobriu quatro esculturas maias de pedra que representam os “avôs” originais da sabedoria e do poder.
Significativamente, essas figuras de seminal importância para a religião e a cosmologia maias simbolizam a Guerra, a Agricultura, o Comércio e os Tributos[32]. Tal como Feuerbach observou, todo estágio importante na história da civilização humana começa com a religião[33], e a religião serve à civilização tanto substancial quanto formalmente. Em seu aspecto formal, a natureza reificadora da religião é a mais poderosa de todas as contribuições.
A arte é mais uma das objetificações originais da cultura, que é o que a torna uma atividade separada e o que a dota de realidade. A arte também é uma promessa de felicidade supostamente utópica, que nunca é cumprida. O engodo encontra-se em grande medida na reificação. “Ser uma obra de arte significa instaurar um mundo.”, de acordo com Heidegger[34], mas esse contramundo é impotente em face do resto do mundo objetificado do qual ele continua fazendo parte.
Georg Simmel descreveu o triunfo da forma sobre a vida, e o perigo que a subordinação à forma representa para a individualidade. O dualismo entre forma e conteúdo é o arquétipo da reificação mesma, e faz parte das divisões básicas da sociedade de classe.
Em um nível fundamental, há uma semelhança abstrata e um tanto limitada em toda aparência estética. Isso se deve a uma severa restrição da dimensão sensual, inimiga número um da reificação. E, aludindo a Freud, é a repressão de Eros que torna a cultura possível. Seria acidental que os três sentidos que estão excluídos da arte – tato, olfato e paladar – são os sentidos do amor sensual?
Max Weber reconheceu que a cultura “aparece como a emancipação do humano em relação ao ciclo organicamente estabelecido da vida natural. Por esse mesmo motivo”, segue ele, “todo passo adiante da cultura parece estar condenado a levar a uma ausência de sentido cada vez mais devastadora”[35]. À representação da cultura segue-se o prazer na representação, que substitui o prazer em si mesmo. A vontade de criar cultura faz vista grossa à violência na cultura e à violência da própria cultura, uma violência que é inescapável, dado que a cultura tem como alicerces a fragmentação e a separação. Toda reificação se esquece disso.
Para Homero, a ideia de barbarismo era a de uma entidade desprovida de agricultura. A cultura e a agricultura sempre estiveram ligadas por sua base comum na domesticação; perder aquilo que é natural dentro de nós é perder a natureza fora de nós. A pessoa torna-se uma coisa a fim de dominar as coisas.
Nos dias de hoje, a cultura do capitalismo global abandona sua pretensão de ser cultura, até mesmo quando a produção de cultura ultrapassa a produção de mercadorias. A reificação, o processo da cultura, domina no momento em que tudo somente espera para ser naturalizado, em um ambiente em constante transformação que é “natural” apenas em nome. Os próprios objetos – e até mesmo as relações “sociais” entre eles – são percebidos como reais somente na medida em que se reconhece sua existência no espaço midiático ou no ciberespaço.
Uma reificação domesticadora transforma tudo, inclusive nós mesmos, em seus objetos. E esses objetos possuem cada vez menos originalidade ou aura, tais como discutidas por comentadores desde Baudelaire e Morris até Benjamin e Baudrillard. “Uma enxurrada de coisas vazias e indiferentes transborda agora da América; coisas falsas, vida postiça.”, escreveu Rilke[36]. Enquanto isso, o mundo natural em sua totalidade tornou-se um mero objeto.
A prática pós-moderna arranca as coisas de seu contexto e de sua história, como, por exemplo, no estratagema de se inserir na música, na pintura e em novelas “citações” ou elementos arbitrariamente justapostos pertencentes a outros períodos. Isso confere aos objetos uma autonomia desarraigada e indefinida, ao passo que aos sujeitos resta pouca ou nenhuma autonomia.
Parecemos ser objetos destruídos pela objetificação, nosso enraizamento e nossa autenticidade tendo sido aniquilados. Somos como o esquizofrênico que vivencia a si mesmo ativamente como uma coisa.
Há uma frieza, até mesmo uma desvitalização cada vez mais impossível de ser negada. Uma sensação palpável de que “algo está faltando” é inerente ao empobrecimento inequívoco de um mundo que objetifica a si mesmo. Pode ser que nossa única esperança se encontre precisamente no fato de que a insanidade do todo é tão evidente.
Continua sendo alegado que a reificação é uma necessidade ontológica em um mundo complexo, que é exatamente o cerne do problema. O ato de desreificação precisa ser um retorno a uma vida simples e não-dividida. A vida engessada e dissimulada em uma coisidade petrificada será incapaz de redespertar sem um vasto desmantelamento deste mundo perdido cada vez mais padronizado e massificado.
Até bem recentemente – até a civilização –, a natureza ainda era um sujeito, e não um objeto. Nas sociedades de caçadores-coletores, não havia divisão estrita ou hierarquia entre o humano e o não-humano. A natureza participativa de uma conexão desaparecida precisa ser resgatada, aquela condição na qual o sentido era vivido, e não objetificado em uma rede de cultura simbólica. A imagem deveras positiva que agora temos da pré-história estabelece a perspectiva de um recordar antecipatório: deparamo-nos com um horizonte de reconciliação entre sujeito e objeto.
Essa participação original junto com a natureza é a antítese da dominação e do distanciamento que constituem o âmago da reificação. Ela nos lembra de que todo desejo é um desejo de relação que, em sua forma mais sublime, é recíproca e cheia de vida. Possibilitar essa proximidade ou presença é um projeto prático gigantesco, que fará com que estes dias sombrios cheguem ao fim.
Notas:
[1] Claude Lévi-Strauss. Tristes Tropiques. New York, 1972, p. 382.
[2] Edmund Husserl. Le Discours et le Symbole. Paris, 1962, p. 66.
[3] Novalis. Schriften, vol. II. Stuttgart, 1965-1977, p. 594.
[4] Iddo Landau. “Why Has the Question of the Meaning of Life Arisen in the Last Two and a Half Centuries?”. Philosophy Today, Summer 1967.
[5] Citação atribuída ao dramaturgo Max Frisch. Fonte desconhecida.
[6] Gilbert Ryle. The Concept of Mind. London, 1949.
[7] Theodor Adorno. Prisms. Cambridge, 1981, p. 240.
[8] Édouard Le Roy. The New Philosophy of Henri Bergson. New York, 1913, p. 156.
[9] Martin Heidegger. “What is Thinking?” In: Basic Writings. New York, 1969.
[10] Gilbert B. Germain. A Discourse on Disenchantment. Albany, 1992, p. 126.
[11] Friedrich Engels. Dialectic of Nature. Moscow, 1934, p. 231.
[12] Jean-Luc Nancy. The Birth to Presence. Stanford, 1993, p. 2.
[13] Theodor Adorno. Prisms. Cambridge, 1983, p. 262, por exemplo.
[14] William Desmond. Perplexity and Ultimacy. Albany, 1995, p. 64.
[15] E. M. Cioran. On the Heights of Despair. Chicago, 1990, p. 126.
[16] Giovanni Tortelli. De Orthographia. 1471.
[17] Thomas Wynn. The Evolution of Spatial Competence. Urbana, 1989.
[18] Theodor Adorno. Aesthetic Theory. Minneapolis, 1997, pp. 118, 184.
[19] Edmund Husserl. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Evanston, 1970.
[20] Lévi-Strauss. op. cit., p. 358.
[21] Herbert Marcuse. One Dimensional Man. Boston, 1964, p. 236.
[22] W. V. Quine. From Stimulus to Science. Cambridge, 1995, p. 27.
[23] Maxine Sheets-Johnstone. The Roots of Thinking. Philadelphia, 1990.
[24] Ludwig Wittgenstein. “Wittgenstein’s Lecture on Ethics”. Philosophical Review 74 (1965), p. 12.
[25] C. S. Peirce. Collected Papers. Cambridge, 1931-1958, vol. 5, pp. 28, 29.
[26] Quine, op. cit., p. 29.
[27] A citação é o título da obra autobiográfica de Robert Irwin (Berkeley, 1982).
[28] Bradd B. Shore. Culture in Mind. New York, 1996, p. 222.
[29] Georges Condominas. We Have Eaten the Forest. New York, 1977.
[30] Mircea Eliade, citado em False Consciousness, por Joseph Gabel (Oxford, 1975), p. 39.
[31] J. G. Frazier. The Golden Bough: A Study in Magic and Religion. New York, 1932-36, XLIX, p. 74.
[32] Mark Stevenson. “Mayan Stones Discovery May Confirm Ancient Text”. Associated Press (November 17, 1997).
[33] Ludwig Feuerbach. Lectures on the Essence of Religion. New York, 1967, p. 209.
[34] Martin Heidegger. “The Origin of the Work of Art”. In: Basic Writings. New York, 1969, p. 170.
[35] Max Weber. “Religious Rejections of the World and their Directions”. In: Essays on Sociology. Hans Gerth; C. Wright Mills (Ed.). New York, 1958, pp. 356-357.
[36] Rainer Maria Rilke. Letters of Rilke, vol. 2. New York, 1969, p. 374.


Valeu pelo comentário. Realmente esse é um assunto sensível e a primeira reação é quase sempre negativa. Leva um tempo…