Parte 3 de Possessão: Uma crítica anarquista anticivilização à posse.
O mundo foi possuído pela ideia de posse, mais precisamente, pela ideia de que ele pode ser possuído por seres humanos, únicos possuidores legítimos de alguma coisa. A posse é uma ideia metafísica, uma afirmação da espiritualidade humana pela identidade negativa com um mundo que perdeu sua qualidade espiritual. A civilização é uma possessão demoníaca do mundo pelo ser humano. Como exorcizar o mundo e passar da naturalização da posse para o objetivo político de despossuir o mundo?
Posse e sentido
O principal obstáculo à despossessão parece ser que a posse nos dá sentido. O “sentido da vida” nem sempre existiu. Com base na Teoria da Compensação Imediato-Tardio do psicólogo Leonard Martin, concluímos que a necessidade de um sentido para a vida é uma estratégia de compensação da perda de um modelo de recompensa imediata que havia em sociedades forrageadoras. O surgimento da agricultura criou uma ansiedade em relação ao futuro: o cultivo, diferente da coleta, não tem resultado imediato e nem garantido. Ele exige uma paciência que não estava disponível para o cérebro humano. Essa capacidade não foi desenvolvida porque não havia, durante a maior parte da existência humana, uma condição material que tornasse essa longa espera necessária. Como consequência, o cérebro humano reage criando ansiedade, e as perguntas pelo sentido da vida são mecanismos simbólicos que criamos para lidar com essa ansiedade.
O conceito de posse se encaixa perfeitamente como um desses mecanismos de compensação. Todo trabalho duro será recompensado pela posse, e o medo de perder suas posses pode ser amenizado pela inflação do desejo de posse acima de qualquer outro valor. É o que vemos no filme “E o vento levou”, quando diante da angústia da perda de uma plantação, a personagem jura para si mesma que nunca mais sentirá fome em sua vida, não importa quem ela tenha que matar ou roubar ou enganar.
A despossessão pode começar como uma análise crítica ao sentido da posse como um sentido social que se tornou existencial dentro de um determinado processo histórico, e pode, portanto, ser revertido. Podemos desfazer o sentido da posse, retornando para um mundo que produza menos ansiedade. Não que isso seja fácil, mas aponta um caminho possível.
Assim como no caso do “sentido da vida”, o sentido da posse é mobilizado artificialmente por todo um aparato publicitário que está constantemente vendendo a ideia de posse como algo natural e necessário. As pessoas não nascem com noções de posse, elas são ensinadas a organizar a realidade a partir da ideia de posse. Somos ensinados a atribuir a sujeitos os objetos que os pertencem por um processo pedagógico.
Quem voluntariamente concordaria com a ideia de possuir a terra, por exemplo, sem ter sido ensinado desde criança que as coisas têm dono? Essa ideia é naturalizada porque ela é ensinada para nós dessa forma.
No senso comum, é muito frequente encontrar a ideia de que colocamos o sentido de ter acima do sentido de ser. Essa ideia parece surgir de uma intuição sobre o que estamos falando aqui. Não é uma simples crítica à propriedade privada. A propriedade privada “refere-se a um tipo de sistema que aloca objetos particulares como pedaços de terra para indivíduos particulares usarem e manejarem como bem entenderem, com exclusão de outros (mesmo aqueles que têm uma maior necessidade de recursos) e com exclusão também de qualquer controle detalhado pela sociedade”. A posse refere-se a um sistema anterior, que transforma sujeitos em objetos, e os coloca numa condição onde precisam ser possuídos para terem valor. Um objeto sem dono é um objeto desperdiçado.
Como ter um sistema desses em funcionamento sem uma pedagogia da posse? Uma pedagogia que faz a posse ter sentido, que transmite o sentido da posse como uma tradição, que vem dos primeiros povos agrícolas. Reconhecer essa construção social do sentido da posse é um primeiro passo necessário para a despossessão.
O sentido atribuído à posse não apenas não é natural, como não tem coerência ética. Não há justificação para a posse que não passe pela naturalização da violência. Essa violência está implicada na relação não consensual e unilateral de “uso”. Além disso, historicamente, a posse enquanto sistema organizacional não se espalhou por escolha e sim por genocídio e etnocídio, assim como a agricultura.
A posse não tem sentido real, embora nossa sociedade se baseie nela há milhares de anos. Embora seja verdade que toda propriedade é um roubo, toda posse é uma objetificação. A posse depende de hierarquia, e por isso se torna questionável pelo anarquismo. O sentido da posse é ideológico, é uma interpretação distorcida da realidade, onde pessoas passam a acreditar que podem ser donas de um pedaço de terra, por exemplo. É uma crença difusa, reproduzida estruturalmente. A pedagogia da posse é uma pedagogia civilizacional. Aprendemos a ser civilizados aprendendo a ser donos do mundo. A dominação é uma consequência lógica dessa relação de posse.
Do mesmo modo que a oposição entre estado e propriedade privada é uma ficção liberal, a oposição entre colonização e posse é uma ficção civilizatória. Imaginamos um mundo de abundância material como um mundo melhor justamente porque ele elimina a necessidade de possuir. No episódio “The Neutral Zone” (temporada 1, episódio 26) de Star Trek, o Capitão Jean-Luc Picard, diz: “Muita coisa mudou nos últimos trezentos anos. As pessoas não são mais obcecadas pela acumulação de coisas. Eliminamos a fome, a carência e a necessidade de posses. Crescemos para fora de nossa infância.”
O problema aqui é a naturalização da acumulação, como se fosse uma necessidade de um estágio de desenvolvimento anterior, e como se apenas o avanço tecnológico e cultural pudesse resolver o conflito inerente à posse, como se esse conflito só pudesse ser resolvido quando os meios superam os fins civilizados. Ele desconsidera a possibilidade de abandonar os fins civilizados e adotar fins que podem ser supridos pelos meios limitados que tínhamos antes do conceito de posse, por exemplo.
A crença na superação da posse pela abundância tecnológica é uma crença ideológica porque preserva os dogmas da posse, que seriam a separação metafísica entre sujeito e objeto, a insuficiência dos modos de vida originários e o sentido unilateral da relação de uso, implicando também numa racionalidade instrumental.
A necessidade de reciprocidade ou consenso na relação de uso não implica que todas as relações civilizadas, atualmente baseadas na unilateralidade, possam ser reconstruídas com base na reciprocidade. Poderíamos, por exemplo, criar uma empresa de mineração que faz um ritual xamânico de diálogo e busca de consentimento da terra antes de escavar um buraco nela? É evidente que não. Mas é mais ou menos isso que fazemos quando enviamos antropólogos para escrever um relatório sobre a área afetada. O problema não é a simples falta de consentimento, mas toda uma estrutura que foi criada a partir do abuso da terra, e que não poderia ser criada numa relação recíproca.
O possessivo é um instrumento lógico muito usado mas pouco compreendido. Não por ser muito complexo, mas talvez por falta de interesse. É inegável que a vida na civilização se torna muito mais fácil quando se naturaliza o conceito de posse. Supor uma crítica a ele é suficiente para produzir dissonância cognitiva, ou uma crise de ansiedade pela possibilidade de perder um dos principais mecanismos de compensação da perda do mundo imediato.
Existe muito mais a ser dito sobre a relação entre anarquismo e a despossessão. Eu não vou conseguir finalizar esse assunto aqui. Pretendo apenas abrir algumas portas.
Posse e monogamia
Um bom ponto de início para a crítica à posse talvez seja a crítica à posse de pessoas. A crítica à monogamia é, em certo sentido, a crítica à ideia de que é possível ser dono de uma pessoa. Isso indica que o conceito de posse não pressupõe uma simples separação entre sujeito humano e objeto não-humano com classificações ontológicas entre ambos. Possuir é objetificar sujeitos. Os sujeitos objetificados podem ser pessoas de outras raças e gêneros, que são consideradas inferiores, com menos direito de posse sobre o mundo.
Assim é que a ideia de emancipação passou pelo conceito de tomar posse de si. A despossessão passa por uma consideração dos sujeitos não-humanos, e isso às vezes é confundido com um discurso que justifica a objetificação de certos humanos. Por exemplo, quando dizemos que o ser humano não pode ser considerado como um sujeito de direito excepcional, superior aos outros animais, isso é equivocadamente interpretado como uma tentativa de justificar tratar pessoas humanas do mesmo modo como tratamos animais não-humanos. Em “Assassinos por natureza”, por exemplo, o personagem faz uma fala nesse sentido: “É apenas assassinato. Todas as criaturas de Deus fazem isso. Você olha nas florestas e vê espécies matando outras espécies, nossa espécie matando todas as espécies, incluindo as florestas, e nós apenas chamamos isso de indústria, não de assassinato.”
Essa fala de Mickey serve como uma crítica à hipocrisia das normas sociais que condenam a violência individual mas toleram a violência institucionalizada, como a destruição ambiental e a exploração animal. Porém, ele mesmo naturaliza essa violência ao afirmar que “todas as criaturas de Deus fazem isso”, sugerindo que a violência é uma característica natural e universal, o que não tem absolutamente nada a ver com uma crítica legítima ao especismo.
Considerar que a perspectiva animista (todos são pessoas) seria uma forma de justificar o racismo é incoerente porque o que há de errado em tratar pessoas humanas como tratamos outros animais não-humanos é que o modo como tratamos animais não-humanos foi normalizado como relação objetificadora. Se a crítica é a toda e qualquer objetificação, não faz sentido pressupor que a ideia busca uma igualdade por baixo, ou justifica a violência contra humanos a partir da violência humana contra não-humanos. Isso seria eco-fascismo e repudiamos esse pensamento. O que queremos dizer é que não se pode possuir pessoas, nem animais, nem rios, nem montanhas, nem terra, nem tudo que é tirado dela numa relação unilateral e possessiva.
A crítica à monogamia é uma forma de crítica à possessividade aplicada a pessoas. A crítica à posse é uma crítica à possessividade aplicada a todos os seres do mundo. Uma coisa parece pressupor a outra, principalmente quando se entende que a distinção entre o que é pessoa ou não é arbitrária ou enviesada, e pode ser questionada. Não para reduzir o número de membros da comunidade de pessoas, mas para incluir tudo que existe como membros de uma mesma comunidade vital.
Mais interessante ainda, a monogamia parece surgir junto com a agricultura e o conceito de posse, sendo a mulher uma das primeiras posses. É possível conjecturar que a posse foi aplicada primeiro aos seres humanos e depois à terra. Independente da ordem dos fatores, temos aí uma relação direta entre monogamia e posse.
Geni Núñez, psicóloga e ativista indígena guarani, aborda a relação entre monogamia, posse e colonização em suas reflexões. Em uma de suas publicações, ela afirma: “Uma não monogamia indígena compreende que a lógica da propriedade privada não era presente em nosso território.”
Como argumentado anteriormente, podemos entender a crítica à posse como uma radicalização da crítica à propriedade privada. Essa perspectiva sugere que a monogamia, associada à ideia de posse, foi introduzida como parte do processo colonial, destruindo com as formas de relacionamento e organização social presentes nas culturas indígenas antes da colonização: A monogamia faz parte e talvez seja a peça fundamental no controle de corpos femininos. Ela parte da ideia de posse da mulher.
A posse sobre a mulher se estrutura na sociedade patriarcal mesmo quando a mulher ganha algum direito à propriedade do próprio corpo, como acontece no caso de um imóvel alugado. O direito de propriedade é dela, mas a posse é do marido, e ela só pode negar esse direito de ser possuída quando pede divórcio e restaura o direito de posse sobre si. Mas não sem correr o risco de ser violentada, assassinada ou excluída da sociedade.
Mesmo quando a relação é consensual, a posse permanece sendo imposta por uma estrutura monogâmica que confunde amor, compromisso, respeito, fidelidade e cuidado com posse. E aqui, o argumento é estranhamente parecido com o argumento liberal sobre a “tragédia dos comuns”. Aquilo que não tem dono está condenado ao descaso, e somente propriedade privada pode ser adequadamente cuidada. Ou seja, na lógica monogâmica, como na lógica da propriedade privada, pressupõe-se que a ausência de posse leva inevitavelmente ao abandono ou à negligência. Isso cria uma justificação ideológica para relações possessivas, estabelecendo que apenas sob o domínio exclusivo se pode garantir o cuidado e a preservação, assim como se justifica o descaso com o bem público pelo fato dele ser público.
Essa concepção de posse, presente no discurso monogâmico assim como na defesa de privatizar rios e montanhas para preservação, equipara liberdade com abandono, reforçando a ideia de que o vínculo afetivo só é legítimo quando mediado por um contrato de exclusividade. Assim, a monogamia não apenas estrutura a relação como um contrato de propriedade, mas também legitima a posse sob a justificativa de proteção e manutenção do vínculo.
A não-monogamia política, por outro lado, questiona essa premissa ao afirmar que o cuidado e o compromisso não precisam estar atrelados à garantia de posse. Não é uma rejeição do afeto e nem mesmo da exclusividade voluntária, mas uma crítica ao modelo que condiciona o cuidado à exclusividade, o que torna a vida de solteira tão exaustiva. Se a mulher busca a monogamia para garantir o mínimo de cuidado e atenção às suas necessidades afetivas ou emocionais, é porque ela está sendo chantageada a isso pela naturalização do comportamento desapegado e da cultura do descarte, associado à vida de solteiro. Assim, ela nega a própria liberdade para sobreviver à toxicidade da própria monogamia, e não porque realmente prefere um relacionamento monogâmico. É como preferir estar preso para ter segurança e alimento.
Dessa crítica também podemos deduzir que não basta fingir que os interesses da terra estão sendo considerados simplesmente porque se pode tirar uma quantidade X de toneladas de nutrientes do solo sem desgastá-lo completamente. O equívoco da ecologia preservacionista e do conceito de sustentabilidade está justamente na sua adoção do conceito de posse como responsabilidade. É evidente que é preferível uma ecologia do “baixo impacto” do que o total descaso com a natureza, mas essa falsa bifurcação é imposta pela própria civilização. A superação da monocultura do pensamento abre espaço para perspectivas ecológicas muito mais interessantes que a ecologia convencional e seu conceito limitado de sustentabilidade.
Posse e ação direta
Finalmente, temos um exemplo prático de despossessão em algumas ações diretas anarquistas como as ocupações e o dano à propriedade. John Zerzan, um dos principais teóricos da anarquia primitivista, expressou isso ao refletir sobre a tática Black Bloc: “Dano à propriedade não é violência”. O dano à propriedade vai além da crítica convencional à propriedade privada, porque aqui não se trata mais apenas de uma crítica à monopolização do direito de propriedade, mas à propriedade em si e à estrutura que a cria. O dano à propriedade não é uma agressão a pessoas, mas uma forma de resistência contra estruturas que perpetuam a dominação e a alienação inerentes à propriedade.
O Black Bloc é uma tática anarquista que visa desafiar as manifestações pacíficas tradicionais por meio de ações que rompem com a lógica da propriedade privada. Ao destruir vitrines, bancos e símbolos do capitalismo, o Black Bloc argumenta que a proteção à propriedade privada é uma defesa da ordem econômica vigente. Não por outro motivo, os defensores dessa tática geralmente praticam também o “desapego material” ou a crítica ao consumismo, ao consumo de produtos de origem animal, e assim por diante. A crítica à posse se manifesta como uma tentativa de mostrar que os bens materiais não deveriam estar acima das vidas humanas ou da justiça social.
Sobre as ocupações, Hakim Bey introduziu o conceito de Zonas Autônomas Temporárias (TAZ), que são espaços autônomos que emergem momentaneamente para subverter as normas estabelecidas. Para Bey, essas zonas representam uma interrupção temporária da lógica da propriedade estatal e privada, oferecendo um espaço de liberdade e experimentação comunitária. Bey argumenta que essas ocupações desafiam diretamente a lógica da posse ao criar ambientes nos quais se pode experimentar, mesmo que por um breve momento, como seria uma convivência não mediada por contratos de posse e propriedade.
As ocupações de moradia em São Paulo e Belo Horizonte são um exemplo de ação onde a despossessão pode ser entendida e aplicada. As ocupações oferecem uma condição de vida onde respeito à posse é substituído pelo respeito a outros valores. Não respeito seu espaço porque ele é seu por direito, ou por causa de um contrato estabelecido, mas porque eu te respeito e entendo suas necessidades. Como gatos decidindo quem vai ficar onde, não há ali um conceito de posse no sentido de direito de uso, mas um conceito de respeito à existência do outro e do que ela abarca.
Ações diretas desafiam o conceito de posse porque não resultam numa reorganização do que é de quem, e sim numa reorganização social dos fluxos de poder, de existência e de convivência. É diferente da busca por uma transformação gradual da sociedade por meio de reformas, ou da simples redistribuição dos bens. Não é uma luta para ter, mas para ser, mesmo que isso implique em certas relações de posse que são inevitáveis no contexto da civilização e do capitalismo. A ação direta expõe a violência simbólica contida na manutenção da sociedade possessiva e da posse do mundo.
Posse e veganismo
O veganismo e a abolição animal também podem ser entendidas como críticas à posse. Afinal, é a posse sobre animais, com ou sem um sistema de propriedade, que os sujeita ao sofrimento. A ideia de possuir um animal começa com uma aproximação aparentemente inocente entre humano e não-humano no processo de domesticação. Mas rapidamente se transforma num sistema que objetifica os seres vivos e os valoriza apenas na medida em que podem ter “valor de uso” para seres humanos, negando seu valor intrínseco. Mesmo em contextos onde a posse não está diretamente ligada a um sistema formal de propriedade, a relação de dominação e controle sobre animais persiste.
Gary Francione, um dos principais teóricos do abolicionismo animal, argumenta que a raiz do problema da exploração animal está na posse em si. Em sua obra “Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation” (2008), Francione afirma: “O status de propriedade dos animais é a base de sua exploração institucionalizada. Enquanto os animais forem propriedade, seus interesses não serão considerados de maneira significativa.”
A abolição animal exige não apenas melhores condições de vida para os animais confinados ou sob a “tutela” humana, mas a eliminação da posse sobre animais. A libertação animal só é possível quando rompemos com a lógica de que seres vivos podem ser possuídos ou controlados. Portanto, há uma crítica à posse pressuposta na filosofia do veganismo, e não somente da propriedade privada.
A crítica anticivilização, promovida por autores como John Zerzan e outros primitivistas, converge com o abolicionismo animal ao criticar a domesticação como forma de controle. Para ambos os movimentos, a domesticação não é apenas uma relação prática, mas um fundamento ideológico que legitima o domínio humano sobre outras espécies.
Rejeitar o consumo de produtos de origem animal é apenas uma das ações possíveis a partir da concepção de que seres vivos não podem ser possuídos ou usados. Por isso mesmo o argumento não é sobre boicote individual, mas sobre a crítica a um modo de vida que transformou nossa relação com os animais numa relação de posse. Despossuir animais é diferente de parar de consumí-los. Vai até o ponto em que a caça praticada por modos de vida originários não é problemática como a criação de animais de estimação em ambientes urbanos, justamente porque não pressupõe posse.
O abolicionismo animal e a crítica anarquista à posse compartilham uma raiz comum: a recusa da objetificação dos seres vivos, sejam eles humanos ou não. Ambos os movimentos reconhecem que a liberdade genuína só é possível quando rompemos com a lógica que transforma vidas em objetos que podem ser possuídos.
Posse e feminismo
Na mesma via de pensamento, chegamos facilmente à ideia de crítica ao patriarcado como processo de despossessão da mulher.
Em “Calibã e a Bruxa” (2023), Federici mostra que a acumulação primitiva de capital incluiu a expropriação dos corpos das mulheres. A caça às bruxas dos séculos XVI e XVII não foi um fenômeno marginal ou irracional, mas uma campanha sistemática de terror que transformou as mulheres em propriedade: primeiro dos pais, depois dos maridos, e sempre do estado e da igreja.
A domesticação das mulheres possibilitou a domesticação da terra. O corpo feminino foi o primeiro território colonizado pelo patriarcado capitalista. A expropriação das mulheres de seu conhecimento sobre ervas medicinais, controle de natalidade e cura, saberes que davam autonomia e poder comunitário, foi necessária para estabelecer um novo regime de reprodução social baseado no poder masculino sobre a capacidade reprodutiva feminina.
A monogamia patriarcal foi o dispositivo de controle que transformou as mulheres em propriedade privada dos homens. A família nuclear burguesa é a unidade de produção e reprodução social, onde o trabalho doméstico feminino invisibilizado e não remunerado sustenta a acumulação capitalista. A esposa é posse do marido, seu trabalho para sustentá-lo, inclusive afetivamente, é naturalizado como “amor” ou “dever”, nunca como trabalho que gera valor.
A divisão entre produção e reprodução pressupõe a posse masculina sobre o trabalho reprodutivo feminino, transformando a capacidade de gerar e sustentar a vida em recurso que pode ser possuído. Angela Davis, em “Mulheres, Raça e Classe” (1981), demonstra como a escravização de mulheres negras nas Américas radicalizou essa lógica: os corpos das mulheres negras eram literalmente possuídos para gerar mais propriedade humana para seus senhores. A violência sexual sistêmica contra mulheres escravizadas não era um desvio, mas uma expressão da lógica da posse.
A colonização de territórios e dos corpos das mulheres são processos de possessão. O capitalismo global depende da superexploração do trabalho feminino. As mulheres são possuídas duas vezes: fornecendo trabalho barato e renovando a força de trabalho.
O que os homens chamam de amor é trabalho não pago. O cuidado, a gestão emocional, a manutenção dos laços afetivos, é naturalizado como extensão do “ser mulher”, ocultando sua dimensão de trabalho apropriado.
bell hooks, em “Feminist Theory: From Margin to Center” (1984), argumenta que o feminismo não pode se limitar a uma crítica da desigualdade de gênero, mas deve questionar todas as formas de dominação. Isso inclui a relação de posse que estrutura não apenas as relações entre homens e mulheres, mas entre humanos e não-humanos. hooks aponta para como a socialização patriarcal ensina homens a verem o mundo através da lógica da posse: possuir mulheres, possuir filhos, possuir terras, possuir animais.
Federici, em “Re-enchanting the World” (2018), conecta explicitamente a crítica feminista à crítica ecológica, argumentando que a destruição de florestas e a caça às bruxas fazem parte de uma mesma ideologia, que sruge com a destruição da cosmologia animista que reconhecia a agência e a vida na natureza.
A despossessão da mulher não significa garantir direitos de propriedade iguais aos dos homens. Significa questionar a ideia de que corpos, reprodução, afeto e capacidades de cuidado possam ser possuídos. Significa reconhecer que a autonomia feminina foi historicamente destruída pela imposição da lógica da posse, e que sua recuperação exige a abolição dessa lógica.
A bruxa era perigosa não porque adorava o demônio, mas porque representava uma forma de vida baseada na reciprocidade e no conhecimento compartilhado, não na posse de objetos.
Se a opressão de gênero não é um fenômeno separado da destruição ecológica ou da exploração de classe, também não é separado da crítica à posse. Despossuir o mundo é inseparável de despatriarcalizar as relações sociais, liberando os corpos femininos da condição de posse e reconhecendo a reprodução como parte de uma rede de cuidado coletivo, não como posse privada masculina.
A abolição da posse passa necessariamente pela abolição do patriarcado, pois foi a posse das mulheres que naturalizou a posse como estrutura de todas as relações sociais. Sem uma crítica feminista radical, a crítica à civilização permanece incompleta, incapaz de enxergar o papel da dominação dos corpos femininos no desenvolvimento da civilização.
Posse e desastre
Para terminar, temos um exemplo trágico de quebra do conceito de posse na prática: em momentos de desastre. Quando eventos catastróficos ocorrem, como desastres ambientais, colapsos econômicos ou guerras, as estruturas sociais que sustentam a posse também entram em colapso. Nesses contextos, a posse deixa de ser uma garantia de segurança ou estabilidade e passa a ser um fardo ou uma ilusão.
Aqueles que dizem que é preciso ter para ser se esquecem dos que nada têm, mas existem, e se vivem mal, é justamente por causa do sistema que possibilita o ter, e não de suas existências em si. Aqueles cuja sobrevivência depende de redes de apoio coletivo, solidariedade comunitária e ações diretas de apoio mútuo, não merecem menos que você. Como, então, você pode dizer: “mas eu mereço um agradozinho”. Merece? E o outro, não merece? Afinal, você está falando de um direito ou de um privilégio?
Como bem coloca Rebecca Solnit em “A Paradise Built in Hell: The Extraordinary Communities That Arise in Disaster” (2009), os desastres podem desvelar o que há de mais solidário e cooperativo nas comunidades humanas, desafiando a lógica individualista da posse. Os momentos de catástrofe revelam a fragilidade do conceito de posse. Quando as instituições falham, práticas horizontais e cooperativas emergem para garantir a sobrevivência, sem posse. No contexto do furacão Katrina, por exemplo, comunidades organizaram cozinhas comunitárias, distribuição de água e abrigos sem esperar apoio estatal, enquanto propriedades privadas e lojas abandonadas se tornaram fontes coletivas de recursos.
Ao refletir sobre o colapso da civilização, percebemos que a ideia de posse, por mais arraigada que seja hoje, pode acabar num instante, quando as condições para mantê-la são destruídas. Embora seja comum a ideia de que a luta pela posse só se tornaria ainda pior, alguns argumentos levam a crer que essa é uma percepção contaminada pela própria naturalização da posse, e que um sistema de posse numa condição precária se auto-destruiria rapidamente, pelo excesso de competitividade. Simulações de computador parecem corroborar com essa tese, por mais limitadas que sejam.
Na medida em que recursos vitais como água e terra se tornam escassos, o conceito de posse entra em conflito com a necessidade de sobrevivência coletiva. É lógico que isso não significa promover ou esperar pelo colapso como solução para a possessão, mas serve para responder ao ceticismo de que a posse é inevitável e insuperável. Os desastres e nossa reação a eles mostram que o sistema baseado em posse é mais frágil do que parece. A posse perde sentido em certas situações, mas a solidariedade permanece, como uma prática que não depende de possuir.
Propriedade e geontologia
A geontologia de Elizabeth Povinelli enxerga a cisão entre orgânico e inorgânico como dispositivo de alienação. A governança contemporânea (o geontopoder) se estrutura na separação entre vida e não-vida, o que permite classificar seres, territórios e formas de existência como “objetos”.
Anarquismo anticivilização afirma, do mesmo modo, que a divisão sujeito/objeto é uma tecnologia ontológica da dominação. O mundo deixa de ser relacional e passa a ser possuído, coisificado.
O estado liberal só reconhece os povos indígenas se eles encenam um animismo “autêntico”, fixo, imóvel. Faz uso da espiritualidade ou da ancestralidade como moeda simbólica dentro do sistema, convertida em propriedade simbólica ou capital cultural.
O pensamento civilizado sustenta o cercamento ontológico da existência, que transforma a vida em algo que pode ser calculado, gerido, protegido ou descartado. Nós recusamos a separabilidade entre humano e mundo, sujeito e meio, tempo e espaço. Essa separação é a base da dominação técnica, da agricultura, da linguagem instrumental e da posse.
O liberalismo mantém a distinção entre o que pode ou não ser vivente, para legitimar formas de governança e extração colonial. A colonialidade é inseparável da ideia de posse, da terra, do corpo, do tempo, do saber e do desejo. A civilização é viciada em possuir, está possuída pelo demônio da posse.
É preciso destruir os cercamentos, jurídicos, epistêmicos ou ontológicos, para realizar a despossessão. Temos o mais-que-humano como horizonte ético. A existência é baseada em arranjos relacionais, memórias territoriais e manifestações de um mundo onírico, onde é possível se comunicar com a terra e com os seres não-humanos.
A posse é uma ficção que justifica a violência. Destruir a ontologia da posse é destruir a possibilidade histórica da civilização.
O que significa possuir alguma coisa?
A civilização foi construída com base numa ontologia que separa os seres e legitima a posse ou o poder de uns sobre os outros. Essa separação é mitológica, não existe em todas as cosmologias humanas.
A posse é um modo de governo, o governo dos que tem “vida” sobre os que não tem. A anarquia anticivilização precisa rejeitar essa forma de governo.
Fredy Perlman nos apresenta a história da civilização como história da separação. Zerzan, de modo semelhante, apresenta a crítica à linguagem, ao tempo, à agricultura, como formas de separação do mundo vivido. A posse só pode existir na separação. Logo, a despossessão é uma conclusão necessária da crítica à separação.
A terra, a montanha, os rios são entes com agência, não objetos. O liberalismo é incapaz de aceitar isso, porque parte de um pressuposto contrário.
A posse é uma questão ontológica e epistêmica: é uma forma de recortar o mundo, de cercar o mundo e de governar o mundo.
Como viver fora da estrutura da posse? A posse não é anterior à civilização?
Comece com a crítica à propriedade privada, mas não pare nela. A teoria geral do estado demonstra que a propriedade não pode existir sem uma estrutura que a legitima. A propriedade é legitimada pelo estado. A posse é legitimada pela civilização, pela separação entre sujeito e objeto. Assim como a propriedade, a posse não é simples função da “ação humana”, liberais insistem em dizer, mas um produto histórico.
A crítica à posse não é uma autocontradição? Como você poderia criticar a posse se não possuísse o conhecimento sobre a posse?
Isso é apenas outro tipo de argumento do tipo “socialista de iPhone”. Como afirmado antes, não podemos viver imediatamente sem o conceito de posse. Mas ele não é eterno nem inevitável.
Nas culturas “sem estado”, é impossível que um ser humano seja proprietário de um pedaço de terra. A propriedade privada de terra não é algo natural que deriva simplesmente da “ação humana”, mas depende de uma relação social. A propriedade privada da terra só tem como existir a partir de uma sociedade de classes. Do mesmo modo, a posse não é natural e não deriva da “ação humana”, mas de uma relação social onde há separação sujeito-objeto. Uma relação social que abandonou o animismo.
O estado começa no mesmo instante em que um indivíduo declara que um pedaço de terra é SEU e tem o PODER para impedir que outros o utilizem. O estado nasce com a posse.
A despossessão mata o estado.
Historicamente, o acúmulo primitivo de capital foi criado pela escravidão, colonização e dominação de povos e territórios. Era acúmulo de posse, não de propriedade. O consumismo segue sendo sobre posse, não propriedade. O mito do progresso é o mito da posse como necessidade humana para melhoria da qualidade de vida.
Toda posse é uma violência.
A humanidade viveu a maior parte de sua existência sem posse. A possessão do mundo o torna inabitável.
Não há futuro para a posse.
Referências bibliográficas
BEY, Hakim. TAZ: Zona Autônoma Temporária. São Paulo: Conrad Editora, 2001.
CONTRACIV. O não-sentido da vida. Contraciv, 2023. https://contraciv.noblogs.org/o-nao-sentido-da-vida/
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.
FEDERICI, Silvia. Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017.
FEDERICI, Silvia. Re-enchanting the World: Feminism and the Politics of the Commons. Oakland: PM Press, 2018.
FRANCIONE, Gary L. Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation. New York: Columbia University Press, 2008.
GILMAN, Robert. The Idea of Owning Land. In Context, n. 22, 1989.
hooks, bell. Feminist Theory: From Margin to Center. Boston: South End Press, 1984.
NÚÑEZ, Geni. Descolonizando afetos. São Paulo: Planeta do Brasil, 2023.
PERLMAN, Fredy. Against His-Story, Against Leviathan! Detroit: Black & Red, 1983.
POVINELLI, Elizabeth A. Geontologies: A Requiem to Late Liberalism. Durham: Duke University Press, 2016.
SOLNIT, Rebecca. A Paradise Built in Hell: The Extraordinary Communities That Arise in Disaster. New York: Viking, 2009.
ZERZAN, John. Running on Emptiness: The Pathology of Civilization. Los Angeles: Feral House, 2002.
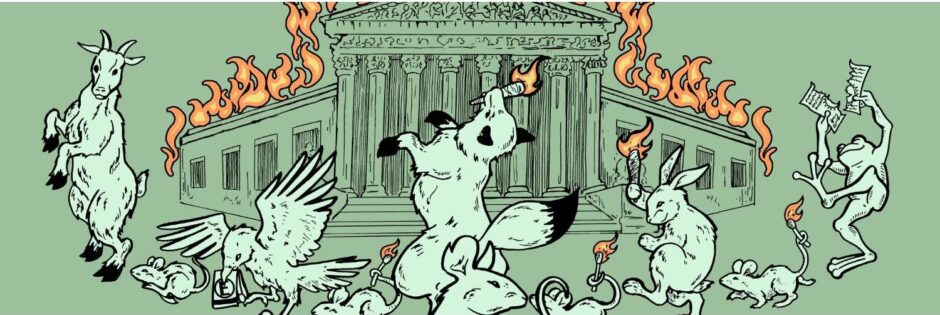
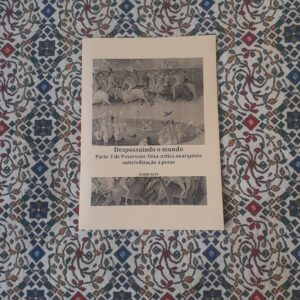

Valeu pelo comentário. Realmente esse é um assunto sensível e a primeira reação é quase sempre negativa. Leva um tempo…