Parte 2 de Possessão: Uma crítica anarquista anticivilização à posse.
A desigualdade social não é determinada pela natureza. Não é porque as pessoas são diferentes que precisa haver hierarquia entre elas. A partir da compreensão crítica à civilização, nós chegamos a uma conclusão semelhante: A separação entre sujeito e objeto não é determinada pela natureza. Não é porque os seres são diferentes que precisa haver uma hierarquia entre eles. A posse depende dessa hierarquia. O que significa que a posse não pode ser justificada pela natureza. A existência de possuidores e coisas possuídas não é uma necessidade biológica, mas uma forma de vida baseada numa relação de poder socialmente construída. Então, precisamos compreender melhor a origem e a natureza dessa relação de poder.
Agricultura e monoteísmo
Para o marxismo, a terra é um meio de produção, e a propriedade privada dos meios de produção é o problema central do capitalismo. Mas não é preciso haver propriedade privada para haver posse da terra, pois a agricultura já implica numa relação de posse. As técnicas e tecnologias agrárias mudaram com o tempo. A agroecologia resgata algumas das técnicas mais antigas de agricultura e horticultura ou desenvolve outras que tornam parcialmente desnecessário a propriedade privada da terra. Porém, todas as formas de cultivo pressupõem posse sobre a terra.
Na narrativa convencional, os seres humanos teriam aderido à agricultura para terem mais comida disponível, mas essa narrativa é frágil. A fome como um problema social só passa a existir em sociedades agrárias. Nas sociedades pré-agrárias (ou não-agrárias), a atividade “produtiva” se encontra misturada à atividade humana de tal modo que uma se confunde com a outra, e não há separação entre tempo de trabalho e tempo livre.
A relação entre alimento e trabalho não é natural. O conceito de comida como algo que pode ser possuído tem origem na cultura civilizada. Não faria nenhum sentido numa sociedade sem agricultura a existência de um conceito de “trabalho” ou de “produção”. É a agricultura que possibilita a existência desses conceitos.
Muitos anarquistas defendem a “abolição do trabalho”. Eles partem de críticas ao trabalho como categoria central e inquestionável da vida humana e como dever moral. A crítica à civilização também leva à crítica da relação de posse como categoria central e inquestionável da vida humana e como direito natural.
A vida humana não pode ser idealizada a partir dos valores da sociedade em que vivemos. Um mundo em que as pessoas estariam ansiosas para possuir coisas nem sempre existiu. Diferente da propriedade, a posse é uma característica exclusiva de sociedades agrícolas. As sociedades não-agrícolas não eram todas iguais. Algumas delas poderiam acumular excedentes a partir da coleta ou da caça, mesmo que esses excedentes não servissem para alimentação. Poderiam fazer sacrifícios para os deuses, por exemplo. Mas, sem o trabalho, essa atividade humana não pode ser moldada por estruturas de poder. Qual a origem do trabalho?
Uma das teorias da origem da agricultura é que ela seria uma técnica necessária para manter assentamentos que foram criados para construir templos e monumentos aos deuses. Nossa hipótese relaciona essa necessidade simbólica ao conceito de posse, que como dissemos antes, começa com a crença de que tudo pertence ao criador. O conceito de deus criador marca a cisão entre sujeito e objeto, e estabelece as bases da civilização.
Os seres humanos não coletam ou caçam por obrigação, mas porque são humanos, é isso que humanos fazem. Mas o conceito de um deus a quem tudo pertence cria uma obrigação de satisfazê-lo. Essa seria a origem do trabalho, como um tipo de sacrifício humano em honra aos deuses, para pagar pela comida e a terra que você ocupa. Pagar pela sua vida. A ecologia humana começa a ser abandonada a partir dessa busca por honrar os donos do mundo, os deuses e seus representantes terrenos. O trabalho nos opõe à natureza. O que mais poderia explicar o comportamento de primatas que decidem parar com o que estavam fazendo para empilhar pedras pesadas num círculo ou numa pirâmide?
Tais monumentos estavam ausentes da vida humana pela maior parte de sua existência. Por centenas de milhares de anos, não há nenhum vestígio de monumentos. São todos relativamente recentes na história humana. O ser humano não nasceu como construtor de pirâmides e nunca precisou de um relógio astrológico para viver.
Estados cresceram saqueando, mas não nasceram saqueando, porque isso é logicamente impossível. Para que algo possa ser saqueado, precisa primeiro ser produzido ou acumulado. Como obrigar pessoas a acumular? Aí se insere a violência da posse: não o roubo da propriedade comum, mas seu surgimento por meio da posse. Sem deuses possuidores do mundo não há conceito de posse do mundo, e sem esse conceito não há movimentação de pedras gigantescas para honrar deuses. Sem a movimentação de pedras gigantescas, não há assentamentos onde se faz necessário o cultivo de grãos e criação de animais. Sem a posse, não haveria agricultura, estado, propriedade, capitalismo e civilização. A agricultura é a peça fundamental do quebra-cabeças para compreender o conceito de trabalho, e o monoteísmo é a chave para compreender a posse.
O mundo como propriedade divina
Jürgen Moltmann (1993), em sua Teologia da Criação, critica a interpretação tradicional do relato bíblico do Gênesis que justifica o domínio humano sobre a natureza. Ele argumenta que essa leitura contribuiu para atitudes exploratórias que culminaram na atual crise ecológica.
A interpretação predominante do Gênesis 1:28, “Enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra”, foi que esta seria uma autorização divina para o domínio da humanidade sobre o mundo natural. Essa visão reforçou a lógica de exploração e degradação ambiental. Moltmann propõe uma releitura que entende o papel humano não como dominador, mas como guardião e parceiro da criação. Para ele, a humanidade faz parte da criação e tem a responsabilidade de preservar a harmonia ecológica.
Na sua teologia relacional, Deus não concede o poder de explorar, mas convoca os humanos a um relacionamento de cuidado e respeito mútuo com a natureza. Moltmann critica o uso teológico da “imagem e semelhança de Deus” (Gênesis 1:26) como justificativa para subjugar a natureza. Para ele, a imagem divina deve ser interpretada como capacidade de viver em harmonia, não de exercer poder destrutivo. Ele defende uma espiritualidade que reconheça a interdependência de todas as criaturas, propondo uma ética ecológica baseada no amor e na solidariedade cósmica.
O fato é que, apesar das interpretações contemporâneas do texto bíblico, é evidente que há relação histórica entre o monoteísmo, o conceito de posse, a civilização e a dominação da natureza. Deus não dá direito de propriedade da terra ao homem, ele permanece sendo proprietário, mas dá direito de posse, o que é suficiente para gerar desequilíbrio. Como alguns cristãos dizem: “Não sou o dono, mas sou filho do dono”. Essa posição como filho do dono garante o direito de uso, o que estabelece a lógica da possessividade como fundamento da civilização.
Esse ideal religioso é secularizado na modernidade, de modo que o ser humano passa a ser visto como possuidor da terra não porque é filho de Deus, mas porque ele é racional e tem ao seu dispor o poder da ciência e da tecnologia. A justificação religiosa da posse se transforma numa justificação humanista.
Posse e evolução humana
Quando os alvos da crítica à civilização são os conceitos de ciência, tecnologia e progresso, é muito comum ouvir como resposta: “Nós aumentamos a expectativa de vida e a população humana cresceu. Isso é uma evidência a favor do avanço tecnocientífico”.
Contrariamente ao que muitas pessoas acreditam, a expectativa de vida humana não começou baixa. Tal ideia sequer faz sentido, porque não há uma referência para dizer que a expectativa de vida de uma espécie é alta ou baixa senão a expectativa de vida dessa mesma espécie num período anterior. A expectativa de vida, portanto, não era “baixa” antes da civilização, ela era a expectativa de vida média de seres humanos vivendo sem destruir o meio, ou ainda, a expectativa de vida ecologicamente ótima para seres humanos. Essa expectativa na verdade diminui logo depois da adoção das técnicas agropecuárias, sendo apenas recuperada ou estendida artificialmente depois. Mas os critérios para qualidade de vida não podem se basear apenas na expectativa de vida, sem considerar a relação entre população e meio ambiente.
Do mesmo modo, o aumento populacional não implica em melhoria da qualidade de vida ou “modo de vida mais evoluído”. O aumento quantitativo não se traduz necessariamente em melhoria qualitativa. Pelo contrário, populações também crescem quando há desequilíbrio com o meio, e também podem viver mais vivendo pior ou destruindo suas próprias condições de vida.
Não basta resolver as relações humanas para que exista uma relação sustentável com o meio. O hipotético “contrato” entre homem e a natureza firmado há dezenas de milhares de anos atrás, na origem da posse, é uma mitologia de origem, uma narrativa que dá sentido à posse. O mesmo ocorre com o contrato social que funda o estado. Mudar a natureza do contrato de posse do “direito irrestrito de uso” para a responsabilidade como “guardião” não muda o cerne do problema, que é a hierarquia entre humano e não-humano.
Se não havia posse, por que algumas pessoas eram enterradas com seus objetos pessoais, por exemplo? A relação de posse, como vimos, é uma relação de poder em que se pressupõe uma hierarquia entre o sujeito humano e o sujeito não humano, que é objetificado, tratado como objeto. Dizer que as pessoas eram enterradas com seus “pertences” pode ser uma interpretação etnocêntrica, já que seria preciso, antes, demonstrar que havia ali um conceito de posse.
Ser enterrado ao lado da pessoa que você ama não é uma evidência de relação de posse entre essas pessoas. O que se esperaria encontrar numa sociedade sem conceito de posse? Sem a separação entre sujeito e objeto, também é possível concluir que as pessoas eram enterradas não com seus “pertences”, mas “inteiras”, já que aquilo que definimos como objetos seriam, na verdade, partes do seu ser. Só faria sentido enterrar pessoas depois de arrancar delas as partes que podem ser usadas por outros quando há conceito de posse.
O exemplo da Ilha de São Mateus é paradigmático para ilustrar como relações ecológicas que geram crescimento populacional não implicam, necessariamente, em evolução ou melhoria da qualidade de vida. Um rebanho de renas foi introduzido artificialmente na ilha sem a presença de predadores naturais. Em um primeiro momento, sua população cresceu de forma explosiva, aproveitando-se da abundância inicial de alimentos. Mas esse crescimento não foi sustentável: as renas exploraram os recursos disponíveis até levá-los ao esgotamento, o que resultou em um colapso populacional abrupto. O episódio demonstra que o aumento quantitativo de uma população pode ser, na verdade, um sintoma de desequilíbrio ecológico, e não um indicador de adaptação ou progresso.
Esses fatos ajudam a desnaturalizar ideias liberais associadas ao crescimento econômico, à expansão populacional e à propriedade como sinal de “evolução” ou “progresso”. A lógica da propriedade privada, baseada na acumulação, exclusão e domínio sobre os recursos, intensifica desequilíbrios ambientais e sociais que começaram muito tempo antes. A ausência de limites ecológicos pode levar ao colapso, mesmo quando há liberdade e igualdade de acesso e uso dos recursos. Ao contrário do que pressupõe o liberalismo, o aumento da disponibilidade ou do uso de bens não é, em si, uma conquista evolutiva. Pode ser um evento catastrófico no metabolismo entre seres vivos e ambiente.
O sujeito liberal é concebido como uma entidade isolada, proprietária de si e consumidora de recursos, num sistema onde o crescimento (econômico, populacional ou de “liberdades”) é tomado como valor absoluto. Entretanto, a própria ideia de que somos “donos de nós mesmos” ignora a realidade da interdependência ecológica e social. Quando aplicamos essa crítica à ideia de posse, percebemos que o modelo liberal transforma relações de reciprocidade em relações de poder e uso, seja no uso irrestrito ou no cuidado e uso responsável. A liberdade liberal cria novas relações entre o ser humano e seu meio, que dependem da desconexão com os limites ecológicos, o que leva em último grau ao colapso ambiental que estamos vivendo. A vida humana constituiu uma “relação sem separação”, que foi quebrada pela relação de poder e a separação entre humano e não-humano.
A “relação sem separação” é mais do que uma interdependência entre entidades distintas, pois não pressupõe uma distinção substancial ou essencial entre elas. Trata-se de uma forma de relação em que os elementos não se apresentam como entidades e não possuem existência autônoma, mas são manifestações de uma mesma realidade ou processo. Em Spinoza, Deus ou a Natureza (Deus sive Natura) é uma substância única, da qual todos os modos (as coisas finitas) são expressões. Em Whitehead (1979), as entidades são eventos ou processos nos quais as identidades emergem. Não há uma separação rígida entre uma entidade e o fluxo relacional em que está inserida. No budismo, o conceito de vacuidade (śūnyatā) implica que todos os fenômenos surgem sem essência própria. A relação entre fenômenos não é uma conexão entre coisas diferentes, mas uma coemergência. Finalmente, nas teorias da complexidade e na ecologia profunda, o conceito de interdependência ecológica sustenta que não há separação ontológica entre o organismo e seu contexto.
A ideia de “relação sem separação” se opõe às concepções ontológicas dualistas que postulam uma cisão essencial entre sujeito e objeto, interior e exterior, mente e corpo. Em vez disso, propõe que tais dualidades são produtos conceituais e não realidades ontológicas. É essa crítica à dualidade que permite repensar a posse não como fundamento natural da liberdade, mas como uma construção contingente, histórica e potencialmente destrutiva. O desafio contemporâneo está em abandonar a ilusão de posse como sinônimo de autonomia, e reconstruir formas de viver a partir de relações sem separação, sustentáveis, compartilhadas e recíprocas com o mundo.
A ideologia da propriedade
A crítica ao conceito de posse não é apenas econômica ou política, mas ontológica e epistemológica. Não há um “instinto” de posse, mas uma multiplicidade de formas de habitar e se relacionar com o mundo. A universalização do modelo ocidental é uma colonização simbólica, a imposição de uma ideologia que naturaliza o que é, na verdade, uma construção histórica contingente. Essa consciência nos permite imaginar formas muito diferentes de viver, conhecer e compartilhar, sem cair na armadilha da escassez artificial e da apropriação do mundo.
A ideologia da posse conclui, a partir de uma análise histórica que valoriza o progresso, que o crescimento populacional humano foi um “sucesso evolutivo”. Afinal, a própria natureza humana é vista como uma força que opera segundo a lei do acúmulo: querer possuir sempre mais daquilo que tem mais valor. No caso, mais do que é humano ou posse humana, e menos do que não é humano ou não é posse humana. Essa ideologia provocou uma mudança drástica nos fluxos de biomassa da terra. Cerca de 96% da biomassa de mamíferos terrestres é composta por humanos e seus animais de criação[1].
Como se pode conferir em gráficos sobre demografia humana que apresentam o escopo mais expandido da história humana, de 200 mil anos pra cá, a população permaneceu estável pela maior parte do tempo. A explosão populacional é relativamente recente e não foi algo que aconteceu na humanidade como um todo, mas é um produto da colonização, genocídio, racismo e superexploração de recursos naturais.
Até cerca de 10 mil anos atrás, a população mundial era de aproximadamente 1 a 10 milhões de indivíduos. A “revolução agrícola” começou a mudar isso, permitindo um crescimento mais lento e contínuo, chegando a cerca de 300 milhões na época de Cristo. A taxa de crescimento se tornou exponencial a partir da “revolução industrial” (século XVIII) e seus efeitos se tornaram visíveis no século XX, quando passamos de 1 bilhão (por volta de 1800) para 8 bilhões (em 2022). A população humana dobrou em cada vez menos tempo, o que só começou a mudar muito recentemente.
A ideologia dominante trata isso com naturalidade, mesmo reconhecendo que é um fenômeno social, e se limita a dizer que é um resultado do aumento da capacidade produtiva e dos avanços na medicina e na higiene, que reduziram a mortalidade e aumentaram a expectativa de vida. Ocultam que essa mudança é um desequilíbrio ecológico gigantesco e que ocorreu por causa de colonização, dominação cultural e política e destruição ecológica.
A explosão demográfica não ocorreu de maneira homogênea entre os povos. A Europa e, posteriormente, as colônias europeias (como os EUA) experimentaram crescimento populacional acelerado devido a “avanços tecnológicos” e ao “acesso massivo a recursos naturais” obtidos por meio da colonização. Populações indígenas e de regiões colonizadas, ao contrário, diminuíram drasticamente devido a genocídios, epidemias e deslocamentos forçados.
O crescimento populacional acelerado nas regiões do Sul Global no século XX também está relacionado a políticas coloniais e neocoloniais, que resultaram em desigualdade, superexploração e degradação ambiental. A lógica é que “mais pessoas” significa mais força de trabalho impulsionando a economia, evidência de que a humanidade está superando a natureza, e consequência natural de avanços tecnológicos e científicos.
O que essa narrativa oculta é o impacto ecológico. O crescimento exponencial da população está intimamente ligado ao aumento da exploração de recursos naturais e à destruição de ecossistemas. A colonização acelerou esse processo ao converter grandes áreas naturais em zonas agrícolas ou extrativistas para abastecer a economia. A agricultura intensiva, mineração e desmatamento sustentam essa explosão, mas comprometem a biodiversidade e a estabilidade climática.
Achar que essa destruição foi resultado da simples ganância de capitalistas ou do desperdício de recursos é uma ingenuidade.
Dados de organismos internacionais evidenciam que o crescimento populacional é, em si, um dos fatores da degradação ambiental global, por mais que muitos insistam em negar isso. Desde 1970, a extração anual de materiais aumentou de 27 para 92 bilhões de toneladas até 2017. Esse aumento está diretamente relacionado à demanda por alimentos, energia e infraestrutura, pressionando os ecossistemas naturais. A extração e processamento de materiais, combustíveis e alimentos são responsáveis por cerca de 50% das emissões globais de gases de efeito estufa e por mais de 90% da perda de biodiversidade e estresse hídrico.
A agricultura intensiva, por exemplo, é identificada como ameaça direta a mais de 85% das 28.000 espécies em risco de extinção. Desde 1990, aproximadamente 420 milhões de hectares de florestas foram convertidos para outros usos, principalmente agrícolas. Essa conversão é o principal motor do desmatamento e da perda de biodiversidade florestal. Mais de 85% das áreas úmidas foram perdidas, e cerca de 32% da área florestal global foi destruída.
Países de alta renda consomem, em média, seis vezes mais recursos naturais e geram dez vezes mais impactos climáticos do que países de baixa renda. Estudos apontam que a economia global já opera fora das “zonas seguras” para seis dos nove limites planetários, incluindo mudanças climáticas, perda de biodiversidade e uso do solo. Mantida a tendência atual, estima-se que até 2050 poderemos perder metade de todas as espécies existentes, comprometendo ecossistemas vitais para a humanidade.
Mas mesmo que todo “excesso” fosse eliminado, ainda estaríamos no “limite”, pois não basta reduzir esse impacto a 10%. Isso apenas nos daria um tempo a mais. O limite da “sustentabilidade” não é o limite da espécie humana, é um limite de dominação de uma única espécie sobre o planeta. Mesmo operando dentro desses “limites” definidos pela ecologia preservacionista e seu conceito de sustentabilidade, isso ainda significa que nenhuma outra espécie neste planeta poderia fazer o mesmo, por exemplo. Ou seja, todas as outras espécies precisam estar subordinadas à dominação humana para que essa “sustentabilidade” seja possível. Quando se entende isso, se entende que o conceito preservacionista de “sustentabilidade” da ecologia convencional é fundamentalmente antropocêntrico e incapaz de produzir uma relação ecológica de reciprocidade entre o ser humano e os seres não humanos.
Essa perspectiva crítica ao conceito antropocêntrico de sustentabilidade foi amplamente explorada, mas faltou explicar porque o conceito é tão popular: porque ele preserva o status de superioridade da civilização enquanto atenua os danos inerentes. A ecologia profunda e as perspectivas anticivilização argumentam que qualquer forma de gestão de recursos que não desestabilize a supremacia humana sobre os ecossistemas continua perpetuando a lógica de dominação. O verdadeiro dilema reside no fato de que, ao adotar práticas sustentáveis, raramente consideramos a possibilidade de abrir mão do controle sobre os espaços naturais, pois acreditamos que o ser humano seria o “guardião” do mundo. Esse conceito de sustentabilidade busca compatibilizar exploração e conservação, mas sempre em função dos interesses humanos.
A imposição de modelos econômicos e sociais a povos indígenas e populações locais foi fundamental para criar um sistema mundial de exploração. A ideologia civilizada não respeita os verdadeiros limites ecológicos da humanidade e se torna um modelo universal destruindo modos de vida realmente sustentáveis. O sucesso do modo de vida civilizado foi resultado de doutrinação, violência, genocídio e deslocamento forçado.
A ideologia dominante também sustenta que a tecnologia sempre encontrará soluções para os problemas causados pelo crescimento populacional, ignorando que o aumento da capacidade produtiva geralmente implica mais destruição ambiental e precarização das condições de vida. Tudo isso indica que a ideologia da posse é uma peça chave da ideologia dominante, sem a qual seria impossível produzir a condição na qual nos encontramos hoje.
O que podemos chamar de “sociedade possessiva” é uma força social que idealiza um fim para a vida humana: possuir coisas. Em nome desse fim se justifica o próprio processo civilizacional, o desenvolvimentos dos meios de possuir coisas. Do mesmo modo que estado e capitalismo estão intimamente relacionados, e um não pode ser abolido sem abolir o outro, civilização e posse estão intimamente relacionadas, e uma não pode existir sem a outra. O anarquismo anticivilização questiona tanto o acúmulo de poder econômico quanto de poder político, que no contexto da civilização, se apresenta como capacidade de possuir. Logo, a ideologia da posse é incompatível com o anarquismo anticivilização.
Criticar a ideologia da posse não significa apenas defender o fim da propriedade. Como tentei argumentar, a posse está implicada no mesmo problema fundamental, ontológico e epistemológico, da propriedade. Posse e propriedade se baseiam em uma divisão entre o “eu” e o “outro”, que pressupõe um sujeito que possui e um objeto possuído.
Isso não apenas estrutura as relações econômicas e políticas, mas também molda a própria percepção do mundo, onde seres e coisas são vistos como recursos a serem explorados. O próprio conceito de indivíduo está atrelado a essa lógica. O desafio teórico e prático do anarquismo anticivilização seria romper com a possessividade em todas as suas formas, o que implica em repensar as estruturas coletivas que, embora críticas ao capitalismo, mantêm relações de posse, e criar formas de convivência simbiótica em vez de dominação humana.
A ideologia da posse é defendida não apenas por liberais, mas também por marxistas e anarquistas. Isso acontece por causa do vão que existe entre essas perspectivas, herdeiras do humanismo, e as compreensões contemporâneas da antropologia e da ecologia profunda, que questionam o paradigma humanista. A ideia de que o ser humano se realiza por meio da produção, da dominação técnica da natureza e da apropriação (mesmo que coletiva) dos meios de vida é dominante e compartilhada por todas as posições políticas tradicionais, da esquerda radical à extrema direita. Todos esses projetos políticos compartilham a mesma lógica antropocêntrica que permanece cega à multiplicidade de formas de existência não baseadas na posse.
Ao insistir na posse como categoria estruturante da vida social continuamos presos à lógica dualista de separação entre sujeito e mundo, corpo e território, humano e natureza. A crítica à posse propõe repensar o mundo como relação de co-emergência e coabitação, ou relação sem divisão.
Autores como Tim Ingold, Viveiros de Castro e Deborah Bird Rose apontam para uma cosmopolítica onde a vida não é organizada em torno da posse, mas da reciprocidade entre humanos e não-humanos. Essa visão não busca a simples distribuição igualitária dos bens, mas a desconstrução da própria ideia de apropriação como fundamento do sujeito. Ela também não propõe um retorno a um passado idealizado, mas sim uma abertura para o que já existe à margem do modelo civilizatório dominante: mundos habitáveis sem posse.
O combate à ideologia da posse exige desfazer o sujeito possuidor, aquele que se pensa separado do mundo, e reconstruir uma ética da imanência. É neste horizonte que anarquismo, ecologia profunda, antropologia crítica e filosofia fenomenológica convergem para oferecer uma alternativa real à catástrofe em curso. A crítica à posse, então, não é um apêndice teórico: é uma tarefa vital diante do colapso ambiental, do esgotamento das formas de vida e do fracasso das promessas da civilização baseada na produção e consumo.
O indivíduo como propriedade de si
A crítica à posse se relaciona com a crítica ao indivíduo, uma vez que a noção de indivíduo assume noções de posse do próprio corpo e dos próprios pensamentos. Isso parece implicar num confronto entre anarcoprimitivismo e anarco-individualismo. Mas pretendo argumentar que há compatibilidade entre a crítica anarcoprimitivista da posse e a crítica anarcoindividualista da propriedade, pois a dissolução completa do conceito de “meu” não precisa necessariamente ameaçar a afirmação do “eu”.
Max Stirner (2009) parece colocar a noção de posse no centro de sua filosofia. Para ele, a posse não é uma instituição fixa ou moralmente sancionada, mas uma expressão direta da força e da vontade do indivíduo. Ele rejeita a ideia de propriedade enquanto entidade abstrata ou direito eterno, defendendo que aquilo que o indivíduo pode tomar e manter é legitimamente seu. Em outras palavras, a posse para Stirner não é uma relação jurídica ou social, mas um ato contínuo de afirmação do “eu” através da apropriação.
A crítica anarcoprimitivista questiona o conceito de “eu” enquanto entidade separada do mundo, mas é possível compreender Stirner também desse modo. Stirner assume que o “eu” é um centro ativo de poder e apropriação, mas essa afirmação radical pode levar inclusive a uma superação da separação. A crítica anticivilização vê a identidade de indivíduo possuidor como um reflexo da alienação social e ecológica, enquanto Stirner considera a afirmação radical do ego como uma libertação do controle ideológico, inclusive da ideologia da posse.
Para os anarcoprimitivistas, a dissolução do “meu” é um passo necessário para superar a fragmentação civilizatória, mas mantém uma utilidade prática. Para Stirner, o “meu” é a base da autenticidade e autonomia pessoal, mas perde toda conotação ideológica. A crítica anticivilização à posse se revela, assim, não como uma contradição fundamental ao pensamento stirneriano, mas como dois caminhos que levam a um mesmo lugar: ao afirmar radicalmente o indivíduo, se nega toda concepção de identidade que é artificial e alienada, efetivamente produzindo o fim da separação.
Colocar o indivíduo no centro, para Stirner, não significa defender o direito natural à posse como uma extensão da própria liberdade pessoal. Também não significa dissolver os limites entre o eu e o outro, apagando a singularidade da experiência individual. Para enfrentar esse dilema, é necessário repensar a noção de autonomia, tradicionalmente concebida como um tipo de autossuficiência. A perspectiva anticivilização não pretende dissolver a singularidade, mas a redefinir como uma expressão de relações sem divisão. A posse não é atacada por sua função econômica, mas por sua capacidade de criar o sujeito como oposição ao objeto, de modo ideológico.
A superação do conflito entre a crítica à posse e a afirmação do indivíduo pode vir da adoção de uma ética que compreenda a autonomia como potência relacional, eliminando o conceito de indivíduo como um núcleo fixo, mas reafirmando-o como fenômeno singular. O indivíduo passa a ser um produto do processo relacional: o ser se torna individual justamente nas suas relações com outros indivíduos, e por causa delas, não da relação sujeito e objeto. O objeto, nesse caso, é eliminado da equação. A relação de “uso” se tornaria uma prática negociada consensualmente, onde nada pertence a ninguém por direito unilateral, mas toda associação se torna possível nas relações que produzem e reproduzem sujeitos únicos. Isso abriria espaço para um individualismo que não se funda na separação, mas na reciprocidade, permitindo afirmar individualidade e crítica à posse.
A posse compulsória
A filosofia liberal define a ética da propriedade como uma obrigatoriedade no sentido da lógica deôntica. Isto é, se baseia não em análises empíricas ou histórico-sociológicas, mas em princípios normativos abstratos: regras sobre como as pessoas deveriam agir, independentemente de como o mundo realmente funciona ou funcionou. Ela é centrada na obrigação, no dever e nos direitos morais ou legais, não nos resultados ou nas consequências observáveis (como nas éticas consequencialistas).
Como vimos, esse pensamento parte de princípios como a autopropriedade (a ideia de que cada indivíduo é dono de si) e o princípio da não agressão (ninguém pode iniciar o uso da força contra outro). A partir daí, constrói um sistema normativo no qual todas as relações legítimas se baseiam em contratos voluntários de posse ou propriedade. Mas não se pergunta se essas condições já existiram em alguma sociedade real, nem se são sustentáveis em termos históricos, ecológicos ou sociais.
Autores como Murray Rothbard ou Hans-Hermann Hoppe estruturam suas defesas à propriedade privada como sistemas ético-jurídicos deduzidos logicamente, partindo de axiomas que eles consideram autoevidentes (como o direito ao fruto do próprio trabalho). Eles não exigem que a realidade confirme suas premissas, o que os aproxima de uma racionalidade apriorística, como a da praxeologia de Mises.
Dizer que a propriedade é puramente deôntica é dizer que ela não é uma teoria política no sentido empírico ou histórico, mas um exercício normativo idealista, que toma uma série de pressupostos morais como verdades universais e constrói sobre eles uma utopia, que se apresenta como neutra, mas é profundamente ideológica.
Deonticidade também se refere a um tipo de lógica. A lógica deôntica estuda a validade de argumentos do tipo: “É obrigatório que…”, “É permitido que…” e assim por diante. Ela utiliza a letra O como operador de obrigação, e P como operador de permissão. Dentro dessa estrutura, é possível analisar afirmações do tipo “Impostos são obrigatórios” e “É permitido cobrar impostos”. Déon significa dever ou obrigação em grego. A lógica deôntica é a lógica das normas, do que é obrigatório ou permitido.
Se eu digo “o fruto do trabalho deve pertencer ao trabalhador” então como pode o mel ser considerado como fruto do trabalho do apicultor, por exemplo, e não da abelha? Isso depende de um conceito antropocêntrico de propriedade, que exclui a possibilidade da abelha ser considerada como trabalhadora ou proprietária. No caso, há uma premissa oculta sobre a excepcionalidade humana. Logo, a legitimidade da posse não deriva da simples aplicação de lógica deôntica. Depende de valores culturais, como a superioridade humana, já que numa sociedade que compreende a terra e outros seres vivos como sujeitos de igual consideração, seria tão equivocado ser dono de alguma coisa quanto ser dono de alguma pessoa ou do que já pertence a alguma pessoa.
É radicalizando essa visão que alguns chegam à conclusão, que para eles é lógica e racional, que não há um problema real em possuir pessoas. Vender crianças, por exemplo, é totalmente legítimo, porque crianças não podem discutir, logo não são sujeitos com direitos sobre si mesmos. Na teoria, não seria a criança que estaria sendo comercializada, mas sim a guarda dela, havendo aí algumas restrições ao que pode ser feito com a criança. Mas se você quer vender seu filho só porque precisa de dinheiro, não há impedimento dentro de uma ética da propriedade, o que não te impede de seguir outros valores éticos que não são sobre propriedade, desde que não entrem em conflito com a ética da propriedade.
Essa diferença de perspectiva faz toda diferença. Não existe uma derivação lógica do direito de possuir a partir de premissas universalmente aceitas. Sem discutir a validade das premissas, não é possível ter uma postura realmente crítica acerca da lógica deôntica da posse. Essa lógica pressupõe a existência de objetos sem dono, o que implica que a natureza possa ser apropriada simplesmente por não estar sob posse humana anterior.
A posse pressupõe uma hierarquia ontológica onde o humano é o centro e a medida de todas as coisas. A lógica deôntica da posse naturaliza uma perspectiva colonial e antropocêntrica, na qual recursos e seres vivos são objetos à disposição para exploração e uso humano. A ideia de que “o fruto do trabalho pertence ao trabalhador” só faz sentido dentro de uma visão antropocêntrica, onde o trabalho distingue o ser humano de outros animais. Para superar essa limitação, seria necessário repensar as categorias de trabalho, posse e sujeito, incorporando concepções que reconheçam a agência dos seres não humanos e a complexidade das relações ecológicas.
Posse e determinismo
Em termos biológicos, a evolução é descendência com modificação, um processo não teleológico de mudança do organismo que pode ocorrer por pressão seletiva do meio ou mutação aleatória. Quando falamos de mudanças sociais, não podemos falar de um processo evolutivo no sentido biológico, o que pode implicar num determinismo biológico ou num tipo de darwinismo social.
A posse é um fenômeno social, não evolutivo. O ser humano não desenvolveu relações de posse como parte necessária de seu desenvolvimento biológico e cognitivo. A crença de que a desigualdade biológica entre os indivíduos determina a desigualdade econômica é uma falácia naturalista, um erro lógico que consiste em deduzir normas sociais a partir de características naturais. Em sociedades forrageadoras, apesar de existirem diferenças individuais de força, idade, saúde ou habilidade, essas não se traduzem necessariamente em concentração de recursos, status ou poder. Isso acontece porque os valores culturais e as instituições sociais promovem outros valores. A desigualdade não decorre da biologia, mas da forma como uma sociedade organiza o acesso aos meios de vida.
A noção de que indivíduos mais “capazes” biologicamente teriam, por isso, mais acesso aos bens ignora o papel das estruturas sociais, políticas e econômicas que moldam as oportunidades de acesso. A desigualdade de classe, de gênero ou de raça não pode ser explicada pela biologia, mas por relações históricas de dominação e exclusão. O capitalismo funciona com base em mecanismos sistêmicos de exploração e acumulação, que nada têm a ver com mérito individual ou capacidade natural, mas com acesso desigual ao poder.
A crença na desigualdade biológica como causa da desigualdade econômica também serve, ideologicamente, para naturalizar hierarquias sociais, como se ricos fossem ricos porque nasceram “melhores” e pobres fossem pobres porque são “menos aptos”. Essa ideologia foi mobilizada desde o darwinismo social até as pseudociências eugênicas do século XIX e XX, e permanece viva em formas contemporâneas de neoliberalismo meritocrático, que culpabiliza os indivíduos por suas condições sociais.
A desigualdade econômica é uma construção histórica, cultural e política, não uma expressão inevitável da natureza humana. Igualdade social não tem a ver com um anão se tornando jogador de basquete profissional na mesma liga que gigantes de mais de dois metros. Igualdade social é sobre acesso às diferentes necessidades e potencialidades. Por exemplo, não ser considerado inferior ou com menos direitos somente por ser mais baixo. Igualdade de oportunidades é toda pessoa ter acesso à saúde, educação e moradia, independente da diferença entre elas.
O discurso que defende a posse acaba incorrendo em determinismo biológico, econômico ou social, pois legitima a desigualdade entre sujeito e objeto como algo inevitável, necessário ou justo. O determinismo biológico tenta vincular aptidões naturais ao acesso às posses. O determinismo econômico postula que a posse segue “leis naturais” de apropriação das forças da natureza, como se a posse fosse a culminância inevitável da organização social humana. O determinismo moral, presente em discursos religiosos ou meritocráticos, associa a posse à virtude e ausência de posses à falha moral. Todas essas formas de determinismo têm em comum a função de ocultar o caráter histórico e político da posse.
Posse e anarquismo
Como disse antes, o anarquismo anticivilização é incompatível com o conceito de posse, e não apenas com a propriedade privada e a mercadoria. Isso cria um conflito com algumas correntes do anarquismo e do mutualismo. Influenciado por Pierre-Joseph Proudhon, o mutualismo parte da crítica à propriedade, mas propõe sua substituição por um modelo baseado na posse (legitimada pelo uso) e na troca justa entre indivíduos ou associações. Ou seja, o mutualismo ainda opera com um princípio dualista e mantém a lógica da apropriação original, mesmo rejeitando a propriedade capitalista e a exploração do trabalho humano. Isso conserva as categorias fundamentais da economia política: trabalho, valor e direito.
A crítica à posse é uma crítica ontológica e epistemológica, que recusa as formas simbólicas de apropriação que sustentam o sujeito como “dono” de um corpo ou de uma mente. Essa crítica se alinha mais com a abolição da economia como estrutura organizativa da vida social do que com busca por novas formas de economia. Ela exige imaginar formas de viver baseadas em relações sem divisão, e modos de existência que não passam pela mediação do “meu” e do “seu”.
Mesmo criticando o capitalismo, a manutenção da posse perpetua formas sutis de exclusão, escassez artificial e hierarquia. Como argumenta Kropotkin (2011), a verdadeira liberdade exige que os bens estejam disponíveis segundo as necessidades humanas. Mas quais são as necessidades humanas? As críticas contemporâneas inspiradas pela ecologia profunda ou pelo pensamento indígena mostram que a lógica possessiva coloniza o mundo vivo, reduzindo relações com o mundo a contratos entre pessoas. Ainda que se busque contratos mais justos entre as pessoas, não se alcança relações saudáveis e éticas com o mundo.
Como defender a posse diante de tudo que foi exposto? Concordamos que não existe acúmulo de capital sem concentração de lucro nas mãos dos donos dos meios de produção. Mas ainda não discutimos o suficiente sobre a concentração de seres sob controle da humanidade. Sobre a imagem do mundo sendo segurado por mãos humanas. Sobre a separação entre humano e não-humano. A crítica à propriedade de Proudhon depende da reafirmação de um conceito ontológico de posse como aquilo que constitui o indivíduo. Se a posse não é um direito natural ou uma necessidade lógica da ética humana, significa que ela pode ser produto de uma relação de poder.
A relação de posse só faz sentido quando há desigualdade entre seres humanos e seres não humanos. Se o objetivo é eliminar essa desigualdade, acaba também a possibilidade da relação de posse. Dizer que a posse “ocorreria de qualquer forma” não é uma afirmação com base científica. Se existem culturas sem posse, não se pode dizer que a posse é uma necessidade humana.
Ao recusar a posse, se afirma uma ética da relação entre sujeitos humanos e não humanos. Isso exige abandonar as categorias mais fundamentais da civilização, inclusive aquelas herdadas por correntes anarquistas que ainda operam com o conceito de excepcionalidade humana. Pensar o mundo em termos de relação sem divisão exige repensar o próprio conceito de vida humana.
O mito da propriedade
As evidências apontam que o ser humano tem mais tempo livre nos modos de vida de forrageamento que no modo de vida agrícola. Para o senso comum, plantar é uma evolução da caça e da coleta, que nos poupa tempo e diminui o trabalho, ou seja, possibilita uma forma mais eficiente de acesso aos recursos. Essa ideia é contestada pela pesquisa empírica. O mito da “revolução agrária” está sendo desvelado pela ciência atual. A agricultura não surgiu para melhorar a vida humana, nem se espalhou porque era mais eficiente, e sim porque ela possibilita desigualdade entre o humano e o não humano.
A agricultura diminuiu a expectativa de vida, a saúde e qualidade de vida dos povos que a adotaram. Ela é produto de uma estrutura de dominação do mundo. Nenhum povo “escolheu” fazer agricultura. Eles foram forçados a isso pela ameaça de violência, como você pode ver nas evidências coletadas por Richard Manning (2004), por exemplo. Esse é o ponto central da crítica eco-anarquista: a crença de que começamos a possuir o mundo para melhorar a vida humana é um mito, não um fato científico.
O argumento de que toda sociedade “estoca e acumula nos tempos de fartura para resistir melhor aos tempos de escassez” não tem sustentação, até porque a escassez de uma região é produto de um modo de vida de extração. Não faz sentido acumular a não ser que você não possa migrar. As evidências antropológicas apontam que a origem dos acampamentos fixados está ligada à crenças religiosas e não à necessidade material de sobrevivência. É a dominação de uma classe de sacerdotes que obriga ao acúmulo.
Não tem como fazer estoque do que é caçado ou coletado sem as técnicas para preservação do alimento. A pecuária e domesticação de animais é relativamente recente e surge mais ou menos ao mesmo tempo que o patriarcado e a sociedade de classes. Também não havia estoque de plantação porque, novamente, não havia técnicas de preservação de grãos e sementes, que nem sequer eram uma parte importante da dieta humana antes da “revolução agrícola”. A produção de grãos só começa a ser significativa quando as pessoas são obrigadas por um chefe a trabalhar para produzir grãos para ele.
Não é possível acabar com a posse sem acabar com as condições materiais e sociais dela: o acúmulo de excedentes e crença na superioridade humana. O acúmulo é sempre insustentável como prática ecológica porque produz explosão populacional e crises ambientais. Sempre existiu um feedback negativo do ambiente regulando a população para dentro dos limites sustentáveis. Fugir disso é a receita para o desastre ambiental, não para a emancipação humana. Somos excluídos da comunidade da vida quando passamos a possuir o mundo, não quando falhamos em possuir.
Tecnologia como posse
A técnica, enquanto conjunto de práticas que emergem da vida comum, pode ser considerada tão antiga quanto a própria humanidade, ou mesmo anterior a ela. Mas a tecnologia, a organização social da técnica, nasce sob a lógica da posse. Não é por acaso que, na mitologia grega, Prometeu é punido por roubar o fogo dos deuses e entregá-lo aos humanos: o fogo, enquanto força transformadora da matéria, era posse divina, e sua apropriação pelos mortais marca uma ruptura com a ordem natural e o início de uma longa história de dominação. Prometeu não ofereceu apenas uma ferramenta: ele legitima uma hierarquia onde o humano se posiciona acima do mundo vivo. A tecnologia é produto da separação e da conquista, onde deixamos de ser natureza para que ela se torne recurso a ser apropriado.
Os grupos humanos nem sempre desenvolveram tecnologias. Durante a maior parte de nossa existência, mantivemos nossas práticas enraizadas em limites ecológicos e relações sem separação. Aqueles que investem em técnicas de domínio tornam-se reféns da guerra, da escassez artificial e da destruição do mundo natural. Acumulam, colonizam, e finalmente colapsam sob o peso das estruturas que criaram. Tornam-se dependentes de sistemas de controle, vigilância, consumo compulsivo, medicalização e militarização para sustentar uma ordem que já não sustenta a vida.
A ideia de “progresso tecnológico” promete emancipação, mas entrega dependência. Como argumenta Jacques Ellul (1964), a técnica moderna não é mais um meio subordinado a fins humanos: ela se autonomiza e passa a produzir seus próprios imperativos. E ao fazê-lo, exige a constituição de um regime de posse que transforma toda relação técnica em relação de poder. Usar uma ferramenta simples, partilhada por uma comunidade, é algo radicalmente distinto de usar um arado, por exemplo.
A crítica anarquista à tecnologia é uma crítica à ideia de posse sobre a natureza, sobre o tempo, sobre o corpo e sobre o saber. A tecnologia separa o usuário do criador, o meio do fim, a ação do contexto. Rejeitar a tecnologia não é recusar toda técnica, mas romper com a organização hierárquica e possessiva das técnicas, que foi introduzida pela civilização.
Não precisamos de mais tecnologia, mas de menos. Precisamos revalorizar ferramentas simples, que devolvam autonomia às pessoas e às comunidades sem diminuir a autonomia de outros seres. Precisamos despossuir o saber técnico e desapossar o que a tecnologia colocou sob domínio humano. A superação da lógica tecnológica passa por descolonizar o mundo natural, substituindo as formas de controle por formas de convivência, sem domesticar a natureza.
Enquanto o fogo não for devolvido, continuaremos queimando o mundo. Não se pode abolir a posse sem abolir as relações de poder que ela criou.
Ciência como posse
O desenvolvimento da tecnociência não pode ser separado do desenvolvimento da sociedade civilizada. A ciência não se desenvolveu pela curiosidade ou desejo de conhecimento dos seres humanos. Ela surgiu junto com a formação da civilização e incorporou seus valores, principalmente a dominação da natureza. Um exemplo disso é a perspectiva de Francis Bacon, um dos pais do método científico, que dizia que a natureza deveria ser “interrogada como uma bruxa para revelar seus segredos”. Para ele, era preciso forçar a natureza a entregar seu poder, como se ela estivesse escondendo algo de nós. Essa visão transforma a natureza em inimiga.
Esse modo de pensar é parte do modelo civilizatório que vê a natureza como algo separado dos humanos. Segundo a ideologia da posse, os seres da natureza podem ser expropriados de seus corpos e de seus conhecimentos, justamente porque eles não têm conceito de posse. A humanidade civilizada tem direito legítimo sobre o mundo, que foi concedido por Deus ou por sua racionalidade. Isso justificou a colonização e o genocídio de povos indígenas. A estrutura da sociedade industrial, mesmo quando dirigida com as melhores das intenções, depende da exploração da natureza, da produção e da relação de uso.
A ciência se desenvolveu apossando-se do conhecimento. Não podemos negar a ciência. Mas podemos questionar o modo como a ciência se organiza. O negacionismo não devolve o conhecimento para o mundo, ele afirma um conhecimento supostamente superior que vem de um individualismo metodológico. Não há uma ciência ecológica, nesse sentido, assim como não podem existir tecnologias limpas: porque ambas são sempre baseadas na mesma lógica de possuir o que não é humano. Continuam tratando a natureza como algo separado, manipulável e disponível ao uso humano. E continuam tratando o conhecimento como posse, não como relação.
Trocar petróleo por lítio não muda o paradigma. O que precisamos não é de tecnologia “verde”, que apenas preserva a natureza, mas de outro jeito de viver que não submeta a natureza ao humano. As propostas de tecnologia ecológica hoje partem daquela concepção de ser humano como guardião, como domesticador da natureza, e pretendem manter os seres vivos numa espécie de zoológico sem jaulas, onde permanecem sob nosso poder, sendo bichinhos de estimação ou lenha para nossa fogueira. Um modo de vida que não dependa de dominar a terra, os outros seres vivos e uns aos outros é um modo de vida que reconhece o saber como relação ética e afetiva.
O crescimento urbano e populacional foi baseado no uso de combustíveis fósseis e na modernização da indústria agropecuária. Ambas poderiam ser consideradas “tecnologias limpas” se comparadas com o que havia antes: carvão e arados puxados por animais. A ideia de “tecnologia limpa” sempre existiu, ela é toda promessa de tecnologia mais eficiente, e ela nunca se cumpriu, ou melhor, ela resolve o problema anterior gerando problemas ainda maiores. A tecnociência produz bolhas de conhecimento que sempre estouram em guerras e destruição ambiental. Escolhemos ignorar os avisos e tratá-los como medo do novo. Mas sem retornar à relação sem separação com a natureza, a ciência criará apenas novas formas de destruição.
Retorno ao passado
Ao criticar a posse, não estamos tentando simplesmente recriar uma forma de sociabilidade que existiu no passado, pois a ausência de posse não é algo que só existe no passado. A ausência de conceito de posse existe no presente. Muito antes do capitalismo, florestas já estavam sendo transformadas em desertos e as pessoas já estavam sendo obrigadas a produzir grãos para uma classe dominante. O capitalismo tem algumas centenas de anos. O modo de vida centrado na posse tem milhares de anos. Os valores da cultura da posse moldaram o desenvolvimento desta sociedade em todos os seus aspectos. Mas não atingiu todas as sociedades humanas.
Que tipo de desejo de consumo pode existir num mundo sem posse? A civilização não é a expressão dos desejos humanos, mas de uma relação de poder. A produção de excedente exige posse sobre a comida. A posse exige separação. O que os defensores da civilização precisam justificar é a separação. Se o dualismo não pode ser defendido, a civilização também não pode.
Ao contrário do que algumas pessoas dizem, não chegamos nessa conclusão idealizando os povos do passado, mas sim pelo próprio avanço da ciência, confirmando o que esses povos já sabiam. É a ciência que nos mostra os enviesamentos ideológicos que fundaram os conceitos basilares da própria civilização. Foi ela que nos mostrou o caminho para essa crítica, que por fim inclui ela mesma. Não há contradição nisso, já que a crítica que fazemos à ciência não significa que o conhecimento científico é inválido, mas que a posse dele pela civilização só é possível por causa de uma relação de poder historicamente localizável. Essa conclusão se coloca a dispor da crítica científica, mas não pode ser negada, por exemplo, por parecer “absurda demais”, “radical demais” ou “inviável demais”. Se o que importa é a verdade, essa crítica só pode ser rejeitada provando-se que ela é falsa, e não pela ausência de perspectiva que ela gera.
É lógico que, enquanto instituição, a ciência é limitada e os cientistas nunca se afastam totalmente de seus próprios vieses. A ciência não é neutra, mas também não é o caso de concordar com teorias da conspiração que tratam tudo que vem da ciência convenientemente como mentira ou como verdade de acordo com interesse de quem ouve. Não queremos pregar uma ideologia do passado mítico, pois, como dissemos, não se trata de voltar ao passado, mas caminhar para o futuro percebendo que a lógica da posse nos trouxe para a beira de um abismo.
Um mundo onde há posse é um mundo quebrado, e nenhuma solução técnica pode repará-lo. As soluções paliativas aprofundam a crise. A crítica à posse é apenas uma hipótese, mas uma que ainda não foi devidamente explorada. Ela pode dar esperança para superação do que parece insuperável, como lei do mais forte. Ao mesmo tempo, essa crítica não é nova. As intuições que a compõem estão espalhadas em uma série de visões de mundo. Só é preciso ligar os pontos.
Um mundo foi “roubado” de nós pelo conceito de posse. Não se trata de roubar esse mundo de volta, mas de libertá-lo. Não são dois lados disputando a posse do mundo. Um dos lados quer a posse do mundo, o outro quer que o mundo volte a ser livre. Uma analogia pode ser feita com o conceito de “libertário”. Rothbard comemorou a “captura” do termo “libertário” pela vantagem que isso daria à direita, e não porque esse termo não pertencia à esquerda. Ele diz: “Um aspecto gratificante de nossa ascensão a alguma proeminência é que, pela primeira vez em minha memória, nós, o ‘nosso lado’, capturamos uma palavra crucial do inimigo… ‘Libertários’… por muito tempo foi simplesmente uma palavra educada para anarquistas de esquerda, isto é, para anarquistas anti-propriedade privada, seja da variedade comunista ou sindicalista. Mas agora nós a tomamos para nós…” (Murray N. Rothbard, The Betrayal Of The American Right).
A resposta dos anarquistas para esse roubo não pode ser insistir na disputa pela posse de um conceito. Se os capitalistas acham que são os verdadeiros libertários ou os verdadeiros anarquistas, já aí provam que não entenderam nada sobre a liberdade e sobre a anarquia. Anarquistas libertam o que foi apropriado, não se tornam novos proprietários. O que a direita fez com o termo “libertário” é apenas mais uma das inúmeras tentativas de desarticular o movimento anarquista, e ele segue como sempre seguiu, agindo nas sombras, sem necessidade de reconhecimento. O termo “libertário” não pertence a ninguém, nem mesmo aos anarquistas. Ele aponta para uma ideia de emancipação que só faz sentido na prática. Não há manipulação discursiva que interrompa uma ação direta.
Pelo mesmo motivo, criticar a posse não é sobre purificar a linguagem dos pronomes possessivos. A posse pode ser rejeitada agora mesmo, quando paramos para pensar sobre como nosso desejo, inicialmente desprovido de um conceito de posse, é capturado pela lógica da separação e do controle. Quando Rothbard celebra a captura de um termo, celebra uma tática de esvaziamento do discurso anticapitalista, como se a ação precisasse das palavras certas para se sustentar.
Ninguém pode roubar minhas ações de mim. Tirar algo das minhas mãos interrompe um fluxo de ações possíveis, como desviar um rio ou enforcar um pescoço. Se você rouba o anarquismo dos anarquistas, eles continuarão fazendo anarquia com outras palavras. Se as ações são possíveis, as faremos. Se elas não são, as tornamos possíveis. Não se trata então de organizar o que pertence a cada um, mas liberar os fluxos de ação possíveis. Se você quer dançar com o fogo, provavelmente precisa antes dançar com a lenha, e se quer dançar com lenha, talvez precise dançar com a terra, e assim por diante.
Por isso, não se trata de tomar de volta o que foi roubado, mas de descolonizar o mundo. A sociedade irá mudar radicalmente quando deixarmos de ser donos do mundo. Quem não quer se libertar dessa estrutura baseada em produção e consumo?
Em “The Idea Of Owning Land”, Robert Gilman resumiu essa ideia. Primeiro, temos que excluir a hipótese da “autopropriedade”. Não tem como ser dono de si mesmo, pois propriedade implica numa divisão entre sujeito e objeto, o sujeito é o dono e o objeto é a propriedade desse sujeito. Para haver propriedade é preciso que existam objetos. Numa epistemologia que não admite a separação entre sujeito e objeto, mas trata tudo como sujeito, não é mais possível pensar numa relação de propriedade, porque toda relação, mesmo o ato de criar uma faca, é uma relação intersubjetiva. O problema não é fazer uma faca que você possa chamar de sua. O problema é como essa relação se estabelece. Por exemplo, se a faca é tratada como objeto inanimado ou ela é considerada dotada de “anima”, alma ou vida.
Um fenômeno subjetivo entrelaça a vida do caçador e do ser cujo corpo está na forma de faca. O processo ritualístico de criação de facas reconhecia isso. Existe uma comunicação com o “espírito” que habita a faca, já que tudo nesse mundo, independente do quanto seja “modificado pelo trabalho humano” permanece habitado por espíritos, e, portanto, vivo e dotado de subjetividade. Nada nesse mundo pode realmente ser apenas um “objeto inanimado”, e logo não pode ser possuído. A ideia de posse implica na quebra de uma visão de mundo animista e na aceitação de uma visão de mundo dualista, que separa sujeito e objeto, mente e corpo, humano e não-humano, e a única função dessa separação é dominação de uma sobre a outra, ou seja, hierarquia.
Referências bibliográficas
BIRD ROSE, Deborah. Wild Dog Dreaming: Love and Extinction. Charlottesville: University of Virginia Press, 2011.
ELLUL, Jacques. The Technological Society. New York: Vintage Books, 1964.
GILMAN, Robert. The Idea of Owning Land. In Context, n. 22, 1989.
HOPPE, Hans-Hermann. A Theory of Socialism and Capitalism. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1989.
INGOLD, Tim. The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge, 2000.
KROPOTKIN, Piotr. A Conquista do Pão. São Paulo: Achiamé, 2011.
MANNING, Richard. Against the Grain: How Agriculture Has Hijacked Civilization. New York: North Point Press, 2004.
MOLTMANN, Jürgen. God in Creation: A New Theology of Creation and the Spirit of God. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
PROUDHON, Pierre-Joseph. O que é a propriedade? São Paulo: Martins Fontes, 1988.
ROTHBARD, Murray N. The Betrayal of the American Right. Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2007.
STIRNER, Max. O Único e a sua Propriedade. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Metafísicas Canibais: Elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
WHITEHEAD, Alfred North. Process and Reality: An Essay in Cosmology. New York: Free Press, 1979.
[1] De acordo com um estudo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) em 2018, a composição da biomassa dos mamíferos terrestres é aproximadamente a seguinte: 60% de todos os mamíferos terrestres são animais de criação (principalmente bovinos e suínos). 36% são humanos. Apenas 4% são animais selvagens.
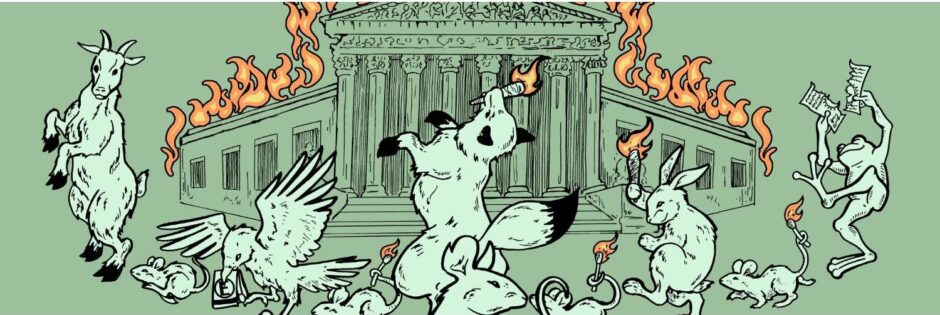
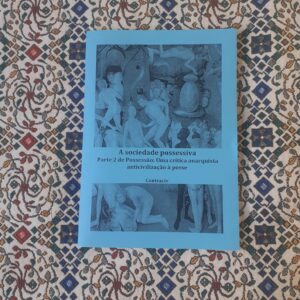

Valeu pelo comentário. Realmente esse é um assunto sensível e a primeira reação é quase sempre negativa. Leva um tempo…