Parte 1 de Possessão: Uma crítica anarquista anticivilização à posse.
Na tradição anarquista, o conceito de posse geralmente é apresentado em oposição ao conceito de propriedade, traçando um limite para a legitimidade do ato de possuir coisas, sem rejeitar por completo esse ato em si.
O que é propriedade?
Propriedade é uma relação social mediada por normas jurídicas, morais ou políticas que define o controle exclusivo de indivíduos ou coletivos sobre recursos, bens ou territórios. Para ter uma propriedade, não basta possuir algo. É preciso ter legitimação social e jurídica dessa propriedade, que inclui o direito de usar, excluir outros e transferir esse bem por venda, herança, doação, etc…
Existem quatro tipos principais de propriedade:
A propriedade privada refere-se à posse exclusiva de meios de produção ou bens que produzam acumulação de capital por indivíduos ou entidades privadas, conferindo-lhes direitos legais de uso, controle e disposição desses bens.
A propriedade pública refere-se aos bens possuídos por instituições estatais em nome do interesse coletivo, como praças, escolas, hospitais e algumas empresas.
A propriedade comum ou coletiva refere-se à posse e gestão compartilhada de bens por uma comunidade, sem controle estatal ou individual. Exemplos incluem terras indígenas, cooperativas agrícolas e plataformas de software livre.
A propriedade pessoal refere-se aos bens de uso direto e cotidiano do indivíduo, como roupas, utensílios domésticos e veículos pessoais, que não geram acúmulo de capital.
Na tradição liberal, a propriedade é um direito natural e deriva do trabalho individual. Na crítica anarquista, como em Proudhon, a propriedade privada é um roubo pois se origina na exclusão, mas se define a distinção entre posse e propriedade. Na crítica marxista, a propriedade privada é vista como origem da desigualdade e da exploração de classe, mas as outras formas de propriedade não são problematizadas do mesmo modo. Na antropologia, observa-se que muitas sociedades tradicionais não apresentam noção de propriedade, mas sim relações de reciprocidade. Tanto a propriedade pessoal quanto a comum têm sido compreendidas como naturais ou não problemáticas, pois elas não geram acúmulo de capital.
A crítica à posse
Apesar da distinção, posse e propriedade têm algo em comum. Ambas dependem da afirmação de um direito sobre um bem ou recurso. Na concepção proudhoniana, quem está usando um recurso tem direito sobre ele enquanto o utiliza. Não é um direito legal, legitimado pelo estado, mas um direito natural, legitimado pelo uso e pela necessidade. A propriedade é um direito estático fundado por normas jurídicas que garantem a manutenção da posse independente do uso, enquanto a posse é um direito dinâmico, que depende da continuidade da ação do possuidor.
Na visão de Proudhon, a posse está vinculada ao ato concreto de utilização e à função social que desempenha. A legitimidade da posse vem do trabalho e do uso contínuo. No pensamento de autores liberais, a legitimidade da propriedade vem do trabalho para apropriação original ou de contratos voluntários. Nos dois casos, surgem conflitos sobre quem tem o direito legítimo ao uso ou controle de um bem. A resolução desses conflitos depende de regras (jurídicas ou éticas) para determinar a legitimidade.
Do ponto de vista da crítica à civilização, o conceito de “uso” implica numa relação hierárquica entre o sujeito que usa e o objeto que é usado. A legitimidade da posse depende dessa divisão. A crítica à civilização afirma que essa divisão nem sempre existiu, e que ela, longe de ser natural, é apenas a expressão de uma relação de poder socialmente construída. Tanto a propriedade quanto a posse são produtos de determinada organização social, de um modo de produção e de uma cultura. A posse não é uma necessidade da natureza humana, mas um construto. A posse não gera relações de desigualdade econômica no sentido capitalista, mas depende de hierarquias e estruturas de poder que antecedem o capitalismo, e gera desigualdade entre humanos e outras espécies.
Assim, a crítica à civilização abarca tanto a crítica à propriedade quanto a crítica à posse, questionando a própria ideia de que é possível possuir algo.
Dádiva e troca
A transferência de propriedade é mais do que fazer um objeto mudar de mão. É a transferência de um direito e ocorre num contrato. Antes da propriedade, já tínhamos a circulação de posses por meio de um sistema de trocas. E antes da troca havia a dádiva. A dádiva é, segundo Godbout (1998), uma relação diferente da troca, porque gera dívida impagável que cria laço social e afetivo entre as pessoas. A dádiva mantém a relação viva, enquanto a troca rompe esse laço porque quita a dívida. Se eu não te devo nada, podemos seguir cada um seu caminho.
Um sistema de mercado é um sistema de trocas. A economia de mercado é baseada na eficiência da troca, e por isso ela depende do dinheiro. Com dinheiro, facilitamos o acúmulo de lucro, e com acúmulo de lucro, criamos divisão de classes. A substituição da dádiva pela troca fez parte do processo histórico no qual foi desenvolvido o capitalismo. O capitalismo depende não só da troca, mas da expropriação violenta (de terras, corpos e saberes), como mostram Silvia Federici (2023) e autores que criticam a acumulação primitiva. Nosso argumento, porém, é que sem violência também não há posse. Assim como a troca é uma violência porque destrói o modo de vida baseado na dádiva, a posse é uma violência porque destrói o modo de vida onde não é possível possuir coisas.
Para alguns críticos da civilização, em especial os que defendem a crítica à representação simbólica, a divisão entre sujeito e objeto é a raiz da alienação humana. A ideia de que é possível possuir algo depende dessa divisão, e dá origem a um modo de vida desligado da ecologia humana. A hipótese central é que os autores da crítica à propriedade pouparam a posse de problematizações porque estavam partindo de uma ideologia civilizatória que naturaliza a divisão entre sujeito e objeto, permitindo que o ato de possuir não fosse devidamente questionado.
Propriedade da terra
A propriedade de terra é geralmente considerada como a primeira forma de propriedade ou a primeira forma problemática de propriedade. A ideia de que um ser humano pode possuir uma parte da terra é relativamente recente na história humana. A posse da terra provavelmente começa como posse coletiva, de uma comunidade. Ela implica em tratar a terra como algo colocado sob os cuidados de um povo. A posse de terra não possibilita a concentração de capital, mas altera fundamentalmente a relação humana com o mundo.
Citando Robert Gilman (1984):
A ideia de propriedade tem raízes muito profundas. A maior parte da vida animal tem um senso de território: um lugar para estar em casa e para se defender. De fato, essa territorialidade parece estar associada à parte mais antiga (reptiliana) do cérebro e forma uma base biológica para o nosso senso de propriedade. Está intimamente associado ao nosso senso de segurança e às nossas respostas instintivas de “luta ou fuga”, as quais dão uma poderosa dimensão emocional à nossa experiência de propriedade. No entanto, essa base biológica não determina a forma que a territorialidade assume em diferentes culturas.
Os seres humanos, como muitos de nossos primos primatas, se envolvem em territorialidade de grupo (e também de indivíduo). Grupos tribais se viam conectados a territórios específicos: um lugar que era “deles”. No entanto, a atitude deles em relação à terra era muito diferente da nossa. Eles frequentemente falavam da terra como pai ou mãe, de quem eram dependentes e a quem deviam lealdade e serviço. Entre os aborígines da Austrália, os indivíduos herdam um relacionamento especial com lugares sagrados, mas, em vez de “propriedade”, esse relacionamento é mais como pertencer à terra. Esse senso de responsabilidade se estende também aos antepassados e às gerações futuras. Os Ashanti de Gana dizem: “A terra pertence a uma vasta família na qual muitos estão mortos, alguns estão vivos e há um número incontável de anfitriões que ainda não nasceu”.
A noção de posse está presente inclusive quando se diz que a terra pertence a todos ou que nós pertencemos à terra. Esse pertencimento não pressupõe uma relação recíproca entre seres humanos e a terra. Quando digo que alguém é meu amigo, a relação é recíproca porque não há uma relação de poder entre as partes. A noção de posse pressupõe uma hierarquia onde a parte possuidora está acima da parte possuída. A territorialidade não é sempre igualitária porque não necessariamente compreende a terra numa relação recíproca.
Esta hipótese não deslegitima o discurso sobre a necessidade de demarcação de terras, por exemplo, mas sim o conceito eurocêntrico de “ser dono da terra”, que foi naturalizado a partir da universalização do pensamento colonial. É semelhante ao que ocorre quando se aplica o conceito de “deus” às experiências de povos originários, sem tomar a devida precaução para distinguir o que está culturalmente pressuposto nesse conceito de “deus”, como por exemplo a ideia de um deus transcendente. O conceito de posse parece carregar também valores da cultura civilizada, que não estavam presentes em outras culturas. Seu uso, portanto, passa a ser problematizado a partir da crítica anticolonial.
Dizer que todos pertencem à terra pode reproduzir uma divisão ontológica entre sujeito e objeto. É possível pensar a relação entre humanos e a terra sem estabelecer posse, assim como é possível pensar na relação entre o corpo humano e os microrganismos que habitam esse corpo sem uma noção de posse. Os microrganismos não são algo que temos, são parte daquilo que nos constitui, isso é, são parte do que somos. A terra não nos pertence nem nós pertencemos a ela: a terra é um ser composto de outros seres e nós somos uma parte da terra.
Por que, então, criamos o conceito de posse? Esse conceito provavelmente tem origem na criação da agricultura, que foi o passo decisivo para desfazer nossa relação original com a terra. Gilman (1984) diz:
No entanto, isso não levou imediatamente às nossas ideias atuais de propriedade. Como é sabido, as comunidades agrícolas primitivas continuaram a experimentar uma íntima conexão espiritual com a terra, e frequentemente mantinham a terra em comum sob o controle de um conselho da vila. Esse padrão permaneceu em muitas comunidades camponesas em todo o mundo.
Não se tratava tanto de agricultura diretamente, mas de sociedades maiores que tribais que se baseavam na agricultura e que levavam a grandes mudanças de atitudes em relação à terra. Muitas das primeiras civilizações estavam centradas em torno de um rei supostamente divino, e era uma extensão lógica sair da ideia tribal de que “a terra pertence aos deuses” para a ideia de que todo o reino pertence ao deus-rei. Como o deus-rei deveria personificar toda a comunidade, essa ainda era uma forma de propriedade comunitária, mas agora personalizada. Privilégios de uso e controle de vários tipos foram distribuídos à elite dominante com base nos costumes e na política.
Com o passar do tempo, a terra ganhou um novo significado para essas elites dominantes. Tornou-se uma abstração, uma fonte de poder e riqueza, uma ferramenta para outros fins. O jogo tornou-se conquistar, manter e extrair o máximo.
Nossa hipótese é que a ideia de posse começa com uma crença religiosa: a ideia de que o mundo tem um criador e todas as coisas pertencem a ele. A ideia de possuir algo é legitimada pela crença religiosa sobre a semelhança entre Homem e Deus. Além da relação entre religião e dominação da terra, o conceito de posse permaneceu pouco problematizado. Tendemos a nos focar na passagem direta “de mãe sagrada” a “meio de produção”, sem atentar que nessa transição surge o conceito de domínio humano sobre o mundo natural, que é a base para o conceito de propriedade. Em outras palavras, antes de se tornar propriedade, a terra precisou se transformar em posse.
A mudança de relação com a terra estabelece a mudança de relação entre as pessoas. Não é a propriedade, mas a posse da terra que é transferida dos deuses para os homens. Neste processo, o que havia de “sagrado” na terra é transferido para uma entidade abstrata, para então ser transferido para o homem, finalmente justificando a existência de uma elite economicamente privilegiada. Essa apropriação da “sacralidade” da terra é a expropriação original da posse.
Ao longo da história da civilização, a terra tem sido vista principalmente como uma fonte de poder, e todo o debate em torno dela foi sobre como organizar os conflitos entre pessoas, não sobre o que justifica o domínio humano sobre o mundo. A posse seria uma consequência lógica do poder humano sobre a natureza.
No entendimento jurídico atual, o direito sobre a terra é limitado. Ele vem sempre acompanhando de deveres e responsabilidades. Possuir uma terra implica num dever de retorno social. A limitação jurídica implica que indivíduos não podem fazer o que quiserem com a terra. Não podem abandoná-la ou destruí-la, por exemplo, sem correr o risco de perdê-la legalmente. Nesse sentido, a terra está sendo colocada sob a responsabilidade de indivíduos, mas, em último grau, o estado mantém o direito mais fundamental sobre a terra. A propriedade, nesse caso, deixa de ser absoluta e passa a ser compreendida como função social.
Uma sociedade sem estado é uma sociedade sem propriedade, seja ela privada ou pública, pois é o estado que garante o direito legal de todos os tipos de propriedade. Qual seria então o direito humano sobre a terra antes do estado? Para a ecologia profunda, é preciso que a terra seja reconhecida como sujeito. Isso implica que a terra não pode ser possuída e que não há direitos humanos em relação à terra. Os seres humanos não têm direito à terra, assim como não tem direito aos animais ou às pessoas. Direito sobre pessoas humanas é escravidão humana. Direito sobre animais não-humanos é escravidão animal. Direito sobre a terra é, do mesmo modo, um tipo de escravidão. As células do seu corpo não têm direito ao seu corpo, elas são seu corpo.
Não se pode possuir a terra porque ela é um ser vivo. A divisão entre organismo e ambiente é problematizada pela epistemologia vegetal de Coccia (2018), por exemplo, como uma divisão arbitrária entre figura e fundo. É somente a partir dessa divisão que se pode falar em possuir algo. Logo, abre-se uma questão epistemológica sobre a possibilidade de possuir algo, não somente de ter direito à propriedade. Essa crítica é aprofundada pela ecologia profunda e a crítica à civilização.
Ética da propriedade
A revolução burguesa foi sobre uma forma de emancipação que se dá por meio da propriedade privada. Depois das guerras mundiais, o consumo se tornou o pilar da identidade social. A criação de empregos impulsionou o surgimento de uma classe média que, diferente da burguesia clássica, não acumulava capital ou propriedades, mas possuía bens individuais (casas, carros, eletrodomésticos) e tinha liberdade de consumo. A identidade dessa classe não se baseia na propriedade privada dos meios de produção, e sim no poder de compra e no acesso ao consumo.
Para a classe média contemporânea, a posse e o consumo representam estabilidade e segurança. A posse de uma casa própria, por exemplo, é um símbolo de sucesso, mesmo que na prática ela pertença ao banco. Essa classe média se apegou à ideia de que o esforço pessoal deveria garantir recompensas materiais. O consumo, e não a propriedade privada, se tornou, assim, a prova tangível de sucesso individual, um valor que justifica as desigualdades sociais dentro da lógica capitalista.
Com o avanço do consumismo, a posse de bens cada vez menos duráveis passa a definir o status social. A economia gig, por exemplo, é justamente sobre não ser dono daquilo que você consome. Pagamos a assinatura somente, mas não somos donos de nada. O proletariado é definido como uma classe sem propriedade privada dos meios de produção, que é dona apenas do próprio corpo. As pessoas que se identificam com os interesses da burguesia hoje não estão buscando necessariamente o acúmulo de propriedade privada, e sim aumento do consumo e da posse de símbolos de status, o que acumula capital nas mãos de uma elite, mas não nas suas. O sonho de consumo é o que alinha ideologicamente os trabalhadores às elites econômicas. Foi preciso criar uma ideologia que naturalizasse a posse para que a expansão do modo de vida capitalista fosse justificado como necessidade histórica universal. Nesse caminho, alguns defensores do capitalismo chegaram à ética da propriedade.
Quando determinados defensores do capitalismo falam de uma ética da propriedade, estão, na verdade, usando um conceito de propriedade muito mais amplo do que o conceito tradicional. Estão falando do conceito de propriedade como um direito natural, que antecede o estado. A partir dessa premissa, analisaremos a ética da propriedade como uma ética da posse, considerando que, na prática, esses autores estão falando sobre a ética de possuir coisas, e não de uma relação de propriedade que é legitimada pelo estado.
Segundo esses autores, a ética da propriedade é auto-evidente. A propriedade seria uma afirmação da natureza humana. Quando marxistas e liberais falam de propriedade, estão falando de coisas diferentes. Se compreendemos que os liberais se referem à posse, a crítica à ética da propriedade pode ser repensada e, talvez, feita de modo mais preciso. O discurso liberal está equivocado em legitimar a propriedade a partir de uma legitimação da posse, mas está equivocado também em legitimar a posse com a afirmação de que a “ética da propriedade” tem uma validade independente dos fatores históricos.
O ser humano nem sempre vendeu ou trocou sua força de trabalho e o trabalho nem sempre foi mercadoria. Mas o próprio conceito de “força de trabalho” nem sempre existiu. Na sociedade comunista, a igualdade social é resultado de duas operações: “De cada um segundo sua capacidade, para cada um segundo sua necessidade”. Essas operações pressupõem transferência do indivíduo para a coletividade e da coletividade para o indivíduo. Os liberais estão convencidos de que o mercado é a melhor forma de organizar essa transferência, porque o mercado seria autorregulado.
Autores liberais baseiam sua visão de mundo numa compreensão da realidade humana que parte do conceito de escassez original. Esse conceito é desbancado pela antropologia econômica de autores como Marshall Sahlins (2007). Uma pessoa que tem pouco, mas precisa de menos do que tem, vive em abundância, não escassez. O fato de que esses argumentos remontam à ação humana demonstra que eles não são exatamente sobre “propriedade” no sentido tradicional, mas sobre algo que se considera natural, como a posse.
O ser humano tem no mínimo 200 mil anos. Permaneceu na África na maior parte do seu tempo de existência. A ocupação de outros territórios tem cerca de 60 mil anos. Sabemos muito pouco sobre a vida humana no paleolítico, mas sabemos que as pessoas se organizavam com base na suficiência e não na acumulação. Quando se fala de sociedades “sem conceito de propriedade”, estamos falando não apenas da ausência de pronome possessivo “meu” e “seu” na linguagem, ou da ausência de estado e propriedade privada, mas da ausência de conceito de posse. Porém, a sociedade da posse não se define pela simples presença do conceito de posse, mas pela centralidade da posse enquanto valor social.
A ocupação tardia de outras regiões do planeta corrobora com a tese de que os grupos humanos permaneceram relativamente nos mesmos territórios porque os meios de subsistência eram adequados. Haviam deslocamentos, mas não eram provocados por escassez, e sim para aproveitar diferentes recursos que cada região tem a oferecer. A escassez não era a condição geral da humanidade no paleolítico. A escassez é um produto da racionalidade econômica, que depende do conceito de escassez para justificar a necessidade de regras para a organização da posse humana. Nós, equivocadamente, pressupomos que houve escassez durante 200 mil anos, quando na verdade não houve sequer a preocupação em estocar alimentos. Autores como Pierre Clastres, Graeber, Scott e Ingold também mostraram que a noção de escassez é uma construção ideológica, útil para legitimar formas hierárquicas e acumulativas de organização social, e não uma constante antropológica.
A queda do mito da escassez original destrói as bases do argumento de que a ética da propriedade é uma constante humana. Isso transforma o liberalismo econômico numa ficção sem sentido. Para entender porque a escassez original é central no conceito de propriedade privada, é preciso entender a definição de ação humana. Mises, por exemplo, acredita que a ação humana é sempre racional e orientada a fins, e que ela ocorre necessariamente em um contexto de escassez. Para Mises, como sistematizado em Ação Humana (2017), a praxeologia é a ciência dedutiva da ação humana, fundada no axioma de que todo agir humano é proposital. Esse agir pressupõe meios escassos e fins que sempre os superam. Assim, a escassez não é apenas uma condição contingente, mas uma premissa a priori da ação: sem escassez, não haveria escolha, e sem escolha, não haveria ação humana no sentido praxeológico.
A partir dessa lógica, Mises (2017) deduz que a propriedade privada surge como uma necessidade lógica: se há escassez, então deve haver algum mecanismo de adjudicação legítima de meios, e esse mecanismo seria a apropriação original e a troca voluntária. Rothbard (2004) radicaliza isso ao afirmar que a ética libertária deriva diretamente da praxeologia, estabelecendo uma “lei natural” da propriedade privada. A propriedade legítima surge quando um indivíduo mistura seu trabalho com recursos naturais, estabelecendo assim um direito de posse que não depende do uso contínuo. Hoppe (1989), por sua vez, tenta dar base epistemológica a isso com sua “ética argumentativa”, segundo a qual qualquer tentativa de negar a propriedade privada é autocontraditória. Ele diferencia a apropriação original (primeiro uso) da mera posse física, argumentando que só a apropriação legítima gera um direito moral sobre um recurso.
Essa estrutura se desmancha se a escassez não for uma condição originária. E é aí que a crítica antropológica entra. Ao demonstrar que sociedades humanas existiram em condições de abundância, a antropologia econômica mina a universalidade da ética da propriedade. Ela não pode ser vista como natural, porque é histórica e cultural. O que Mises e seus sucessores fazem, portanto, é projetar uma racionalidade específica, ocidental, burguesa, pós-iluminista, sobre toda a humanidade.
Essa crítica à ética da propriedade privada implica numa crítica ao conceito de posse. A propriedade privada é uma ideologia historicamente situada, que depende da ideia de posse. A praxeologia se reduz a um jogo lógico autorreferente, alheio à verificação empírica e descolado da realidade material e social, ou seja, uma metafísica disfarçada de ciência, ou uma pseudociência. O conceito de posse tem sua própria metafísica, que também é questionável.
Propriedade e patriarcado
O patriarcado não é um fenômeno biológico nem universal, mas uma estrutura histórica construída a partir do desenvolvimento das primeiras sociedades agrícolas e urbanas do Crescente Fértil. Esse é um ponto fundamental da historiografia feminista. A partir dela, Zerzan critica o patriarcado como forma de domesticação e propriedade das mulheres. Algumas mulheres eram propriedade privada, e outras, propriedade pública.
As primeiras civilizações desenvolveram mitos, leis e religiões que justificavam e perpetuavam a dominação masculina. As mulheres foram excluídas da produção de conhecimento, o que permitiu que os homens moldassem os significados simbólicos da cultura a partir de uma perspectiva “androcêntrica”. Muitas mulheres colaboraram ou se adaptaram ao sistema patriarcal, contribuindo involuntariamente para sua reprodução. Isso é central também na crítica à monogamia.
A monogamia, como o patriarcado, é um sistema histórico e, portanto, pode ser criticado. Assim como não basta igualdade jurídica ou política, não basta fazer “boicote” à monogamia. Romper com a tradição historiográfica patriarcal significa mostrar a monogamia pelo que ela realmente é. Toco novamente nesse assunto em outro momento.
Propriedade e civilização
Sabemos que a economia de mercado é uma criação relativamente recente, e não algo que sempre existiu. Os liberais, porém, quando falam de mercado, se referem a algo que sempre existiu. A hipótese é que eles se referem à posse, não a algo que começa com a origem do estado, mas com a origem da civilização.
A civilização é um tipo de sociedade onde existe um determinado grau de “complexidade social” que geralmente entendemos como mais avançada que outras formas de organização. Essa superioridade é justificada pelo fim da “guerra de todos contra todos”, na criação do estado. Sociedades não-civilizadas são sociedades sem estado ou contra o estado. O estado é o legitimador da propriedade, logo essas sociedades também são sociedades sem propriedade e sem mercado. Porém, como pretendo argumentar, são também sociedades onde as coisas não são possuídas, nem por deus nem pelos homens. São sociedades sem possuidores, sem posse ou contra a posse.
A tese central da crítica à civilização é que a civilização não é resultado de um “avanço histórico”, mas da destruição violenta de uma diversidade de modos de vida anteriores. As sociedades forrageadoras isoladas da civilização não são atrasadas, são contemporâneas. Não são menos desenvolvidas, apenas se desenvolveram de outro modo. Acreditar que a ação humana sempre produz o mesmo modo de vida é determinismo.
A economia de mercado é o processo onde as coisas são produzidas e vendidas ou trocadas, havendo possibilidade de lucro. Antes da economia baseada na troca de coisas, havia uma economia baseada em trocar apoio ou força de trabalho.
O ser humano passou muito tempo sem qualquer conceito de posse, não por ausência de capacidade de compreender tal relação, mas porque as prioridades eram outras. A civilização está correndo atrás de uma coisa que a humanidade desprezou por centenas de milhares de anos: autoafirmação por meio da posse ou poder. Mesmo os exemplos de cooperação na troca de apoio se justificam pela possibilidade de acumular poder, que é materializado em objetos. Longe de ser um ideal ecologicamente sustentável, essa forma de economia também pode causar desequilíbrios ambientais e sociais, como a extinção massiva de espécies.
Questionar o conceito de posse leva ao questionamento de categorias fundamentais como o direito e o trabalho. A existência de conflitos ocasionais por bens materiais não justifica a criação de um direito à propriedade no sentido liberal. Dentro do pensamento civilizado, a perspectiva do direito de posse parte da divisão entre um sujeito e algo que pertence a esse sujeito, sobre o qual ele tem direito. O conceito de “direito de posse” é uma forma de organizar o que pertence a cada um. A relação com os objetos nem sempre seguiu a ordem do direito. O direito de posse surge para resolver conflitos entre pessoas, não o conflito entre seres humanos e não-humanos.
Nas sociedades forrageadoras, caçar ou coletar é uma atividade lúdica, prazerosa, não feita por dever. Nossa sociedade criou o trabalho que consome a vida em vez de fortalecê-la, e que está separado da diversão e do “tempo livre”. Isso surge com a invenção e uso extensivo do arado, seis mil anos atrás. O conceito de trabalho está intimamente ligado à apropriação original, ou seja, ao conceito de posse, no qual o sujeito se realiza por meio do uso de forças naturais para proveito próprio.
Quando falamos de sociedades anteriores ao mercado, precisamos então distinguir entre sociedades sem propriedade, mas com conceito de posse, e sociedades sem conceito de posse. A economia de não-mercado não é, necessariamente, uma economia igualitária ou sustentável. Mesmo sem os mecanismos que garantem a propriedade privada, é possível criar estruturas de opressão social e destruição ecológica. Não é preciso propriedade sobre a terra para consumi-la de modo insustentável. Logo, a crítica à propriedade é insuficiente diante do atual desafio ecológico da crise climática.
Não é apenas a economia da dádiva que foi deixada de lado pela civilização, mas também algo anterior à dádiva. A dádiva ainda pressupõe a existência de “objetos” que funcionam como meios para criação de laços que conectam as pessoas. Nos tornamos dependentes de objetos assim como nos tornamos dependentes do mercado e do estado. Podemos imaginar uma relação não-objetificadora entre seres humanos, onde os laços não são mantidos pela troca de objetos ou de cooperação para acúmulo de objetos, mas por uma reciprocidade entre o mundo humano e o mundo não-humano.
O objetivo não é criar mais uma utopia social baseada na superação da posse, mas compreender como a crítica à civilização conduz a uma crítica à posse, e não se limita a uma crítica tradicional à propriedade. Ela afirma que a posse é insustentável do ponto de vista ecológico, social, ético e epistemológico.
A ausência de posse, e não a dádiva, é a verdadeira condição natural das sociedades humanas. A propriedade privada se torna possível com o estado, e a posse se torna possível com a civilização, muito antes do estado. Quando se fala sobre como a civilização aumentou a cooperação entre as pessoas para a produção dos bens de consumo, cabe perguntar: que tipo de cooperação é essa onde os seres que são usados para produzir bens de consumo não são considerados como sujeitos? O processo mercantil envolve comprar trabalho pelo menor preço possível, e o processo econômico envolve trocar trabalho humano por bens de consumo. Ambos se baseiam num mesmo processo de dominação da natureza. A cooperação humana, descrita por Kropotkin (2021) em “Apoio Mútuo: Um Fator de Evolução”, também recorre à imagem do humano como um ser que se realiza na sua atividade de apropriação do que existe na natureza, diferente dos outros animais. A economia da posse não gera acúmulo de capital, mas estabelece poder humano sobre a natureza.
Possuir conhecimento
Podemos ao menos ser donos do nosso próprio conhecimento, das nossas ideais, crenças e opiniões?
Até o momento, falamos de três referências da antropologia: o conceito de “sociedade original da afluência” de Marshall Sahlins (2007); o conceito de “economia da dádiva” de Marcel Mauss (2018), também chamada de economia de não-mercado; e o conceito de “sociedade contra o estado” de Pierre Clastres (2014). Esses autores não entram necessariamente na discussão sobre a base epistemológica do conceito de posse.
Obras como “A Arqueologia do Saber” (2013) e “A Ordem do Discurso” (1996) mostram que o conhecimento não é algo individualmente possuído, mas construído dentro de regimes de verdade que determinam quem pode falar, sobre o quê e com que autoridade. O conhecimento é sempre atravessado por relações de poder. Nunca é objeto, mas uma função do lugar que se ocupa dentro de um campo discursivo. Não existem opiniões puramente privadas, nossas crenças estão enredadas em estruturas sociais e históricas.
Castoriadis (2008) argumenta que as sociedades humanas se instituem por meio de significações sociais imaginárias: ideias fundantes que não são produto de indivíduos, mas de coletividades. A posse, assim como a ideia de conhecimento individual, é uma dessas criações imaginárias que se tornam naturalizadas. Em obras como “Jamais Fomos Modernos” (1994) e “Ciência em Ação” (2000), Latour mostra que a produção de conhecimento científico é uma prática coletiva que envolve redes de atores humanos e não-humanos. A ideia de que alguém “possui” um saber ignora a teia de relações e dispositivos que tornam esse saber possível. O conhecimento tem um caráter relacional e distribuído, contrário à lógica da apropriação.
Em “Calibã e a Bruxa”, Federici (2023) mostra como o conhecimento das mulheres, especialmente o conhecimento medicinal, foi marginalizado e expropriado durante os processos de cercamento e surgimento do capitalismo. O saber tornou-se um campo de disputa política e patriarcal. O conhecimento foi privatizado pela aliança entre estado, igreja e capitalismo. Boaventura (2000) propõe uma ecologia de saberes que reconhece a pluralidade epistêmica e desafia o monopólio da epistemologia eurocêntrica. Isso coloca em xeque a ideia de que o conhecimento pode ser um bem individual. Porém, ele também não é um bem comum. O conhecimento, na verdade, não é um bem de modo algum.
Conhecimento não é algo que pode ser possuído, mas expressão de modos de vida diversos. E ainda que não trate diretamente da “propriedade do conhecimento”, Marx e Engels (2007) oferecem uma crítica ao modo como o capitalismo transforma tudo em mercadoria, inclusive a força de trabalho intelectual. A alienação inclui também a alienação epistêmica: o saber produzido pelo trabalhador é apropriado pelo capital. A privatização do saber é parte do processo de exploração capitalista. Antes do capitalismo, porém, a civilização transformou o conhecimento em algo “produzido” por pessoas, quando na verdade as pessoas não produzem conhecimento. O conhecimento acontece nas pessoas como rachaduras acontecem em cascas de árvore.
Aliás, uma ilustração perfeita disso é o modo como as narrativas mais antigas sobre a “invenção” de coisas não são sobre como as pessoas produziram conhecimento sobre o mundo, mas sobre como o mundo COMPARTILHOU conhecimento com a pessoa. Um exemplo é a narrativa da “invenção” de roupas feitas com casca de árvore dos povos da polinésia. Nessa narrativa, as pessoas não aprendem a criar tais vestimentas por conta própria, mas numa interação com outros seres. É a própria árvore que ensina as pessoas como fazer essas roupas. O conhecimento não é humano, ele é uma função da relação entre os seres.
Quando entendemos que a opinião é formada por estruturas coletivas, históricas e materiais e que a posse do conhecimento é uma ficção útil para a civilização e o modo como ela trata seres vivos como objetos, compreendemos melhor porque a posse não se sustenta do ponto de vista ético ou ecológico, embora sustente toda epistemologia civilizacional.
Autopropriedade e ética argumentativa
O conceito liberal de autopropriedade, a ideia de que o indivíduo é o legítimo possuidor de si mesmo, de seu corpo e de suas ideias, é um dos pilares da filosofia de autores como Murray Rothbard e Hans-Hermann Hoppe. Essa concepção parte do pressuposto de que o ser humano é uma unidade isolada, dotada de vontade individual e racionalidade própria, que age sobre o mundo em função de interesses pessoais e em um ambiente de escassez. Mas esse modelo antropológico não apenas ignora o caráter profundamente social e histórico da constituição do sujeito, como também impõe uma ontologia possessiva sobre domínios, como o corpo e o pensamento, que são, na realidade, construções relacionais e atravessadas por estruturas de poder.
Quando observamos a abordagem antropológica e epistemológica atual, percebemos que o sujeito não é originalmente possuidor de si, mas inserido em redes de cuidado que são até mesmo anteriores à dádiva e ao conceito de posse. O que chamamos de “indivíduo” só emerge como tal em contextos específicos de subjetivação histórica. Assim como o conhecimento não é algo que se “possui”, mas algo que se transforma, a autopropriedade é uma ficção jurídica criada para sustentar o conceito de posse.
Essa crítica desestabiliza diretamente a noção de ética argumentativa de Hans-Hermann Hoppe, que pretende fundamentar os direitos de propriedade privada com base na estrutura lógica do discurso. Segundo Hoppe (1989), ao participar de um debate, o interlocutor já pressupõe a autopropriedade, pois age como se fosse dono de seu corpo e de seus argumentos. Contudo, essa ética se funda sobre uma concepção abstrata e idealizada de sujeito, que ignora os condicionamentos materiais, linguísticos e sociais da enunciação. Como mostram Foucault e Latour, o que se pode dizer, pensar ou argumentar não é produto de uma vontade isolada, mas de um campo de poder e de uma rede de relações.
A partir dessa perspectiva, a ideia de autopropriedade se revela como uma metanarrativa que naturaliza as desigualdades de acesso ao saber, à palavra e à escuta. Se a minha fala só é legítima porque pressupõe que eu sou dono de mim mesmo, então exclui-se automaticamente toda forma de conhecimento ou expressão que não passe pelos filtros do sujeito que pode ser considerado como dono de si: indígena, criança, louco, mulher, analfabeto, e também os seres não-humanos… todos são potencialmente tratados como “não possuidores” de si, e portanto como incapazes de organizar a sociedade. A ética argumentativa, longe de ser neutra ou universal, torna-se uma ferramenta de exclusão simbólica e política.
O que está em jogo não é apenas uma crítica ao fundamento lógico da propriedade, mas uma contestação ao modo como o liberalismo oculta, sob o manto da razão individual, as formas coletivas de produção da subjetividade, do saber e da vida. Em vez de pensarmos em termos de posse de si, do corpo, da palavra ou do pensamento, podemos reconhecer a interdependência radical entre os sujeitos, e conceber a ética, inclusive do debate, não como uma relação entre “possuidores”, mas como uma prática situada, encarnada e atravessada por relações históricas de dominação e resistência.
Essa conclusão sobre a autopropriedade influencia também a discussão sobre a autonomia. Enquanto a autopropriedade sugere que o indivíduo possui seu corpo como um objeto, que é dominado pela mente, a autonomia remete à capacidade de agir segundo normas que o sujeito reconhece como suas, em um processo que envolve poder sobre si mesmo. A autopropriedade está enraizada na lógica possessiva e atomística do liberalismo, que trata o corpo como uma coisa sujeita à troca. Já a autonomia é uma construção ética e política que pode ser entendida como função de relações recíprocas.
Merleau-Ponty (1996) oferece uma contribuição decisiva ao romper com o dualismo cartesiano que sustenta a ideia de um “eu” separado do corpo. Em sua fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty sugere que não tenho um corpo, sou um corpo. “A relação entre o sujeito e o seu corpo não é a de um pensamento com um objeto; o corpo não é um objeto, mas nosso meio de comunicação com o mundo”. Isso marca a inseparabilidade entre o sujeito e sua dimensão sensível, perceptiva, encarnada. O corpo não é um objeto, mas a condição de possibilidade de qualquer experiência, ação ou reflexão. Essa perspectiva fenomenológica derruba radicalmente a noção de posse do corpo, pois o corpo não pode ser possuído como algo distinto: ele é o próprio sujeito misturado ao mundo. Essa perspectiva supera o conceito de autopropriedade como posse de si, já que a experiência encarnada de si com os outros, em um mundo compartilhado, não é uma experiência de ter, mas de ser ou estar.
Dançar sem possuir
A partir da hipótese antropológica que o conceito de posse não é natural, que ele foi criado por um processo civilizacional, podemos criticar todo o pensamento econômico civilizacional que pressupõe a posse. Só é possível pensar o indivíduo separado daquilo que ele possui numa sociedade que desvaloriza e objetifica o mundo natural, ou seja, que abandona o paradigma da relação recíproca entre os seres.
A comida, por exemplo, nem sempre teve dono. Quando se come um outro ser vivo, não se trata de uma operação do direito de um sobre o outro. Não é preciso tratar o ser humano como estando numa hierarquia superior para legitimar o ato de comer. Se a coleta ultrapassa as necessidades, se faz uma festa para que tudo seja consumido. O “valor de troca” só entra na história muito recentemente, mas o “valor de uso” também pode ser questionado. Para haver valor de uso, é preciso haver uma relação de poder entre sujeito que usa e objeto a ser usado. Se essa divisão nem sempre fez sentido, o conceito de “uso” nem sempre fez sentido.
Se a origem da propriedade está diretamente relacionada à origem do estado, a origem da possessividade está diretamente relacionada à origem da civilização. Não é possível criticar o estado sem criticar a propriedade, e não é possível criticar a civilização sem criticar a posse. Sahlins, Mauss e Clastres demonstram que a diferença entre ricos e pobres nem sempre existiu. Ela é uma criação das sociedades com estado. É preciso acúmulo de excedente e poder político para criar a diferença econômica que torna possível que uma pessoa tenha mais do que o suficiente para viver, e outra tenha menos, ao mesmo tempo e numa mesma sociedade. Os liberais que naturalizam o acúmulo negam esse fato básico da antropologia. Mas ele tem implicações que vão além da crítica à propriedade privada. Também é preciso uma relação de poder para que seja possível conceber a ideia de que algo pode ser possuído.
Uma sociedade não-civilizada é uma sociedade sem hierarquia baseada em posse. Sem o conceito de posse não há quantificação de objetos, nem operações matemáticas como as compreendemos. Para que exista quantificação, é preciso separação entre sujeito e objeto. Uma pessoa com uma pedra da mão, por exemplo, não tem uma pedra, porque a pedra não está sob seu poder. A pedra apenas existe junto com aquela pessoa. Pedras existem ao lado de pessoas não porque seres humanos exercem poder sobre elas. As pedras também “exercem poder” sobre os seres humanos, chamando-os à sua companhia como as flores chamam as abelhas. Os seres dançam porque estão na companhia um do outro. Dizer que uma pessoa possui uma pedra seria tão sem sentido quanto dizer que um passarinho possui um graveto que ele carrega no bico.
Sem o conceito de posse, porém, perdemos uma série de conceitos instrumentais e fundamentais para nos organizar politicamente numa sociedade civilizada. Por exemplo, como lidar com o uso comunitário de recursos sem recorrer ao conceito de posse? A civilização criou necessidades que só podem ser supridas a partir das suas próprias condições, nos tornando dependentes da posse e da separação sujeito-objeto. É impossível abandonar o conceito de posse nas condições civilizadas. Mas isso não significa que a crítica seja inválida. Significa apenas que ela envolve um aprofundamento num campo pouco explorado, e que por isso pode ser considerado como demasiado abstrato.
Mas a questão não é abstrata, ela é bastante concreta: a posse, concretamente, não se sustenta de modo válido diante da crítica à civilização. O que fazer com esse dado é outra história. Provavelmente, a crítica à posse pode ser tomada como mais um dos pontos de referência para a prática de rewilding ou retorno da humanidade ao seu habitat natural. Apenas mais um passo na autocompreensão humana.
A proposta da crítica à posse não é sobre negar individualmente a posse, como um tipo de boicote, mas sim sobre diminuirmos nossa dependência da ideia de ter coisas, como a proposta de valorizar o ser acima do ter. Essa proposta pode ser radicalizada quando se compreende que o ser sem divisão impossibilita o ter. Sem divisão não possuo corpo, sou corpo. Não possuo conhecimento, sou conhecimento. Não possuo poder, sou poder. Não possuo desejos, sou desejos. Não possuo pensamentos, sou pensamentos. Não possuo coisas, porque não há coisas, há somente seres. Não possuo seres, existo na companhia deles. Não possuo objetos, porque não há objetos, há somente sujeitos. Não possuo sujeitos, danço com eles.
Possuir não é uma necessidade humana, é uma necessidade civilizada. Possuir é a origem de nossa crise ecológica. Para superar essa crise, talvez seja necessário superar o paradigma da posse. Parar na crítica à propriedade é evitar a radicalização dessa mesma crítica.
Referências bibliográficas
CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
COCCIA, Emanuele. A vida das plantas: uma metafísica da mistura. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018.
FEDERICI, Silvia. O patriarcado do salário: notas sobre Marx, gênero e feminismo. São Paulo: Boitempo, 2023.
GILMAN, Robert. The Idea of Property and Why It Isn’t Helpful. In Context: A Quarterly of Humane Sustainable Culture, n. 5, p. 22-23, Summer 1984.
GODBOUT, Jacques T. Introdução à dádiva. Revista Brasileira de Ciências Sociais 13, p. 39-52, 1998.
GRAEBER, David. Dívida: os primeiros 5.000 anos. São Paulo: Três Estrelas, 2016.
HOPPE, Hans-Hermann. A theory of socialism and capitalism. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1989.
INGOLD, Tim. The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill. London: Routledge, 2000.
MISES, Ludwig von. Ação humana: um tratado de economia. São Paulo: LVM Editora, 2017.
PROUDHON, Pierre-Joseph. O que é a propriedade? São Paulo: Martins Fontes, 1988.
ROTHBARD, Murray. A ética da liberdade. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2004.
SAHLINS, Marshall. A economia da idade da pedra. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
SCOTT, James C. Against the grain: a deep history of the earliest states. New Haven: Yale University Press, 2017.
ZERZAN, John. Future primitive. Brooklyn: Autonomedia, 1994.
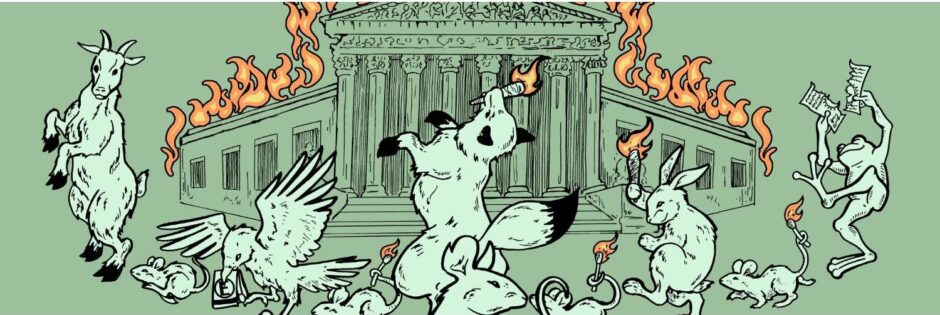
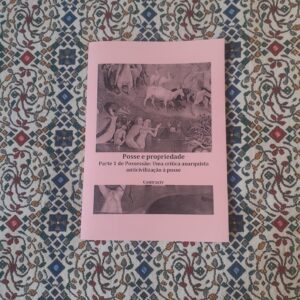

Mais um texto de altíssima qualidade. Tenho a impressão que os textos anticilização têm incomodado muita gente, inclusive entre anarquistas. Tal crítica parece nos “tirar o chão”, questionando tudo aquilo que dávamos como certo em nossas vidas. Os críticos geralmente apelam dizendo que a anarquia anticivilização nada propõe, apenas gera uma uma utopia inútil de uma sociedade forrageadora, em que ficaríamos panguando nas florestas atrás de comida. O pensamento anticivilização é imprescindível para compreendermos “problemas” ambientais atuais, ao revelar a problemática em separar os humanos – civilizados, diga-se, – daquilo que chamamos Planeta Terra. Ainda assim, há pensadores como Miguel Amorós desdenhando dessa perspectiva, chamando os alertas de “colapsologia”.
Parafraseando Pearlman, como é difícil – talvez impossível – pra gente retirar a couraça.
Uma pergunta: Por acaso vocês tem o texto de Georges Lapierre chamado “Disse ”natureza”?”? É um texto que corrobora muito as opiniões encontradas neste blog.
Saúde e Anarquia!
Valeu pelo comentário. Realmente esse é um assunto sensível e a primeira reação é quase sempre negativa. Leva um tempo para a crítica “dar um clique” na cabeça da pessoa. Enquanto dizem que estamos defendendo um modo de vida isolacionista ou sobrevivencialista, estamos na verdade nos organizando nas redes sociais e presentes em diversos movimentos. Este ano teve um encontro anticiv depois da feira anarquista de São Paulo e foi muito bom. Apresentei a perspectiva crítica da posse. Uma crítica à ideia de que o mundo é composto de coisas que podem ser possuídas, em vez se seres com os quais nos relacionamos.
O texto “Disse ‘natureza’?” está no livro “O Mito da Razão” do Georges Lapierre, correto? Realmente tem muito a ver e é uma ótima sugestão. Vou adicionar à lista a ideia de escrever uma resenha sobre esse livro aqui ou fazer um zine com esse texto. Valeu pela recomendação. A ideia geral do texto eu conheci por meio de um artigo da Green Anarchy, que questionava o conceito de natureza. É exatamente essa a ideia do meu texto.